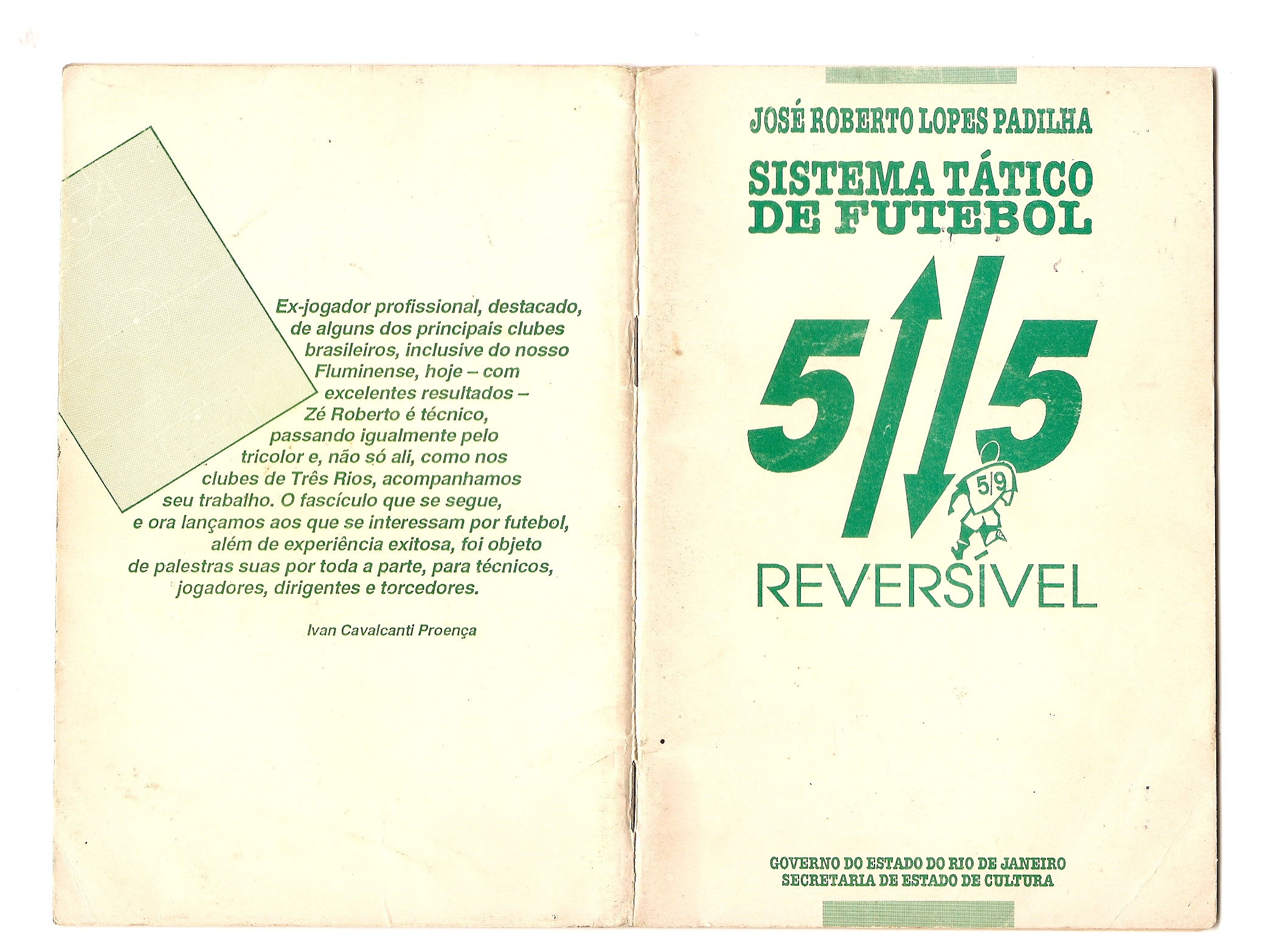por Zé Roberto Padilha
A partida entre Fluminense e Flamengo pelo estadual juvenil de 1969 era realizada no Maracanã, acreditam? Era bom para todo mundo, menos para o gramado padrão FIFA, porque o atleta ia se acostumando com o burburinho do estádio (no primeiro tempo, só os familiares) e os torcedores que vinham chegando descobriam os novos valores que lhe dariam futuras alegrias. Quando éramos lançados no time de cima não tinha o impacto psicológico que os juvenis de hoje sentem por lá.
O placar era de 1×0 para o Fluminense quando, aos 23 minutos do segundo tempo, tentando salvar uma situação de perigo dentro da área, nosso zagueiro central Abel Carlos da Silva Braga, o Abelão da Vila da Penha, optou pela forma mais bonita, dando um chapéu no meia-direita que vinha em velocidade contrária. Fez isso em vez da jogada mais condizente com o futebol que praticava, segundo o qual um bico para frente cairia bem.
O Maracanã, templo sagrado do futebol, sempre atordoou seus atores ao fechar sobre cada um deles aquele toldo de cimento armado, no qual o eco do torcedor soa como uma bomba relógio – nas grandes jogadas e pixotadas também. Ao realizar o chapéu, Abelão calculou mal a batida na bola e o atacante rubro-negro, portador de um topete louro, rápido e franzino de apelido Zico, conseguiu evitar o drible, tocando de cabeça, invadindo a área e empatando a partida.
Todo o elenco tricolor era traumatizado pelo enorme pito das segundas. Nosso treinador, João Baptista Pinheiro, reunia todo mundo no centro do campo, sentava sobre uma bola Drible, e mesmo quando ganhávamos de goleada sobrava uma dura para alguém. Naquela segunda Abelão era pule de 10. E seu Pinheiro jogou pesado como sempre, contando a história daquele “meninão” empolgado, que veio do subúrbio e, no lugar de seguir suas limitações, ficava tentando fazer gracinhas dentro da área para as meninas da zona sul. Com seu lençol furado, havia comprometido todo o elenco. Rigoroso, exigente, ajudou a formar junto a Roberto Alvarenga, José de Almeida, Dr. José Rizzo Pinto uma geração de homens sérios e desportistas corretos, entre eles Rubens Galaxe, Edinho, Pintinho, Cléber, Gilson Gênio, Mário, Zezé, Paulinho, Edvaldo, Tadeu, Silvinho e tantos mais.
Bem, o tempo passou, nós crescemos, trocamos de clubes e o futebol do Abel evoluiu mais do que o de todo nós, tanto que ele chegou a seleção brasileira jogando exatamente como o Lúcio: aplicado, fazendo o simples como Pinheiro queria e com enorme eficiência. Mas quis o destino que no limiar das nossas carreiras, 14 anos depois, quatro personagens daquele episódio se reencontrassem uma nova equipe, o Goytacaz FC, então disputando a primeira divisão carioca. Pinheiro era o treinador, Abel era o zagueiro central depois de um longo período na França, Rubens Galaxe também após rodar bastante foi contratado e eu vinha do Americano, tentando uma sobrevida com meu joelho tri operado. Nada de ficção, tenho fotos ilustrativas acompanhando o texto.
Tínhamos uma boa equipe, com o Petróleo de centroavante fazendo a diferença ao lado do seu xará que trazia riqueza para aquele região na Garoupa. Totonho na lateral direita e um impressionante Índio na cabeça de área. Eu e o Abelão estávamos casados de novo, e saíamos sempre juntos para jantar. Por conta da sua temporada na França, o amigo nos apresentou o vinho no lugar da cerveja, um saudável hábito que cultivo até hoje. Então veio o clássico contra o Bangu. Casa cheia e nas arquibancadas a presença das nossas novas mulheres. De repente, o Abelão toca para o Totonho e dá um pique para receber de volta às costas do lateral esquerdo do Bangu e no lugar de cruzar para o Petróleo tentou mais um drible. E perdeu a bola. Veio o contra ataque e só não tomamos porque o Rubens entrou no túnel do tempo e realizou a cobertura.
Não era, de fato, uma jogada ensaiada, foi improvisada, mas aquele filme do Maracanã me veio logo à mente e na descida para o intervalo comentei com o Rubens:
– Você está pensando o mesmo que eu?
Abel Braga com a camisa do Flu em 1971
Rubens discordou na hora, deu uma risada e retrucou:
– Agora tudo é diferente, éramos garotos, somos todos casados e seu Pinheiro cresceu com a gente!
Chegamos ao vestiário, recebemos nossas laranjas, águas e quando a preleção começou, seu Pinheiro, implacável, virou-se para o Abel e disparou:
– Tu continua o mesmo!
Poucos ali entenderam o sentido da dura. Reza a lenda que a pau cantou, houve empurra-empurra, não sou mais aquele moleque que ouvia suas merdas calado e….. quantas saudades dos meus amigos. Sem o Pinheiro e suas cobranças, muito antes da era Bernardinho, não seríamos os cidadãos que somos. E sem o vinho, o piano do Abel, não teria aquela taça na mesa na hora do almoço, e sem a cobertura e aplicação tática do Rubens teríamos perdidos para o Bangu. E ganhamos de 1×0.