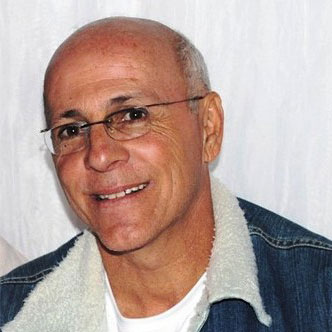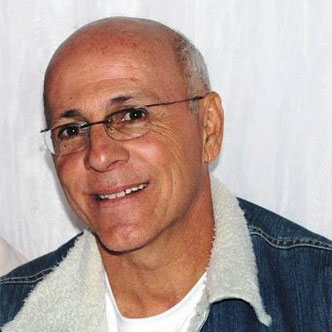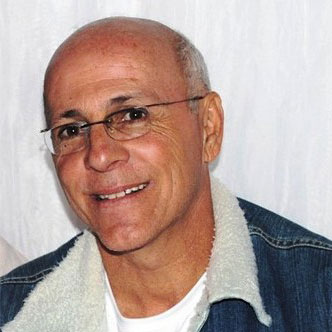por Zé Roberto Padilha
Ser canhoto deveria ser uma anomalia. Melhor, uma heresia. Motivo de preocupações no desenvolvimento do Robertinho que certamente encontraria, no Colégio Entre-Rios, poucas carteiras disponíveis para escrever ao contrário da maioria. Só isto explicaria uma pessoa tão doce e católica como minha avó, América Fernandes Padilha, ter amarrado a mão esquerda do seu netinho durante as refeições. Um ato de extrema correção. Acho que deveria até ter vaga disponível e prioridade nos bancos e correios para quem nascesse escrevendo desse jeito.
Sorte a minha que ela não me viu jogar. Porque quem chegava na peneira batendo na bola ao contrário, tinha uma concorrência menor. De cada dez pontas que se apresentavam, sete eram destros. E fui aproveitando minha cota canhota e fui ficando na ponta esquerda, sendo aprovado e subindo de divisões, até estar concentrado, aos 19 anos, no Paraguai para enfrentar a Argentina.
A base da seleção brasileira para o Sul Americano sub-20, de 1971, era do Fluminense. E às vésperas do maior clássico sul-americano eu e o Marinho, nosso quarto-zagueiro, éramos dúvidas para a partida e dividíamos o quarto e as dores nos tornozelos. Muito inchados, passaríamos a noite fazendo tratamento e a palavra final sairia na revisão pela manhã do médico do Botafogo.
O massagista preparou os baldes de contrastes, um com água quente e outro com água congelada. Era o chamado tratamento de choque térmico. Iniciávamos pelo gelo e quando não suportávamos mais, aliviamos com a água quente e assim, sucessivamente, um balde amenizava a temperatura do outro até que ambos perdessem sua intensidade. Ao final, que terminava no quente já morno, passávamos Bálsamo Bengué, enrolávamos uma atadura de crepe e íamos dormir com a esperança de vê-los despertar desinchados.
Pela manhã, o médico chegou para a revisão e acabou vetando o Marinho e me liberando para a partida. O milagre só acontecera para o meu lado. Quase em êxtase por não perder aquela partida, levantei para comemorar e senti fortes dores no tornozelo. Ao me reexaminar, o doutor descobriu a razão: passara noite inteira tratando o tornozelo errado. A contusão era no direito, mas quando da contagem regressiva e aflitiva para enfiar o pé no balde congelado, a mente congelou junto e taquei o pé esquerdo como de hábito fazia com a bola e com tudo que não suportava. Além de não melhorar o tornozelo machucado, acabei queimando a pele do sadio.
Vetados, assistimos nossa derrota por 2×0 das arquibancadas do Estádio Centenário. E naquele instante só lembrava da minha vó querida e “terrorista”. E se ele tivesse amarrado os meus pés também? Daí seria uma outra história, daquelas que teriam um final feliz desde que ….tivessem começo. Pois jogando na ponta direita quem diria que fosse tão longe para fazer uma burrada dessas?