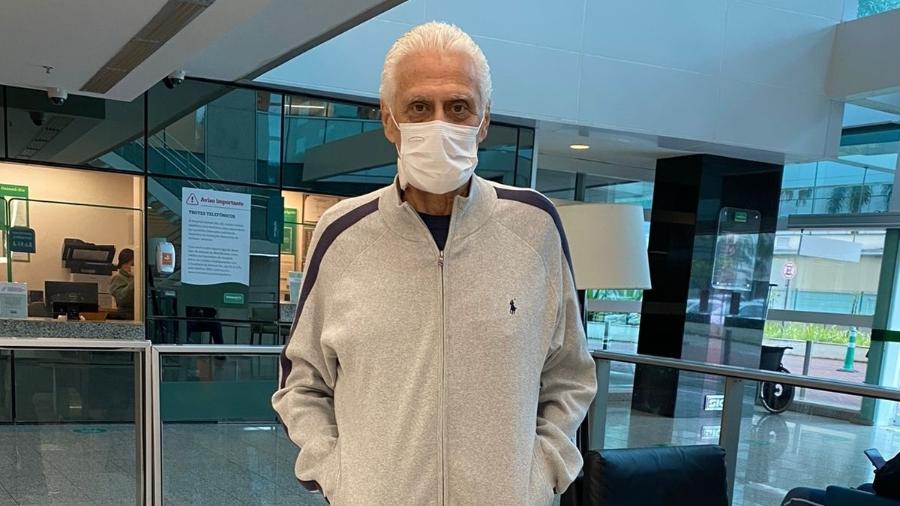por Rubens Lemos

Aos gritos de “fica, fica, fica!”, Pelé dava a volta olímpica com o gramado do Maracanã cercado de meninos uniformizados em trajes dos maiores clubes nacionais. Pelé, nu da cintura para cima, chorava e simbolizava o fim de uma era: a do país melhor do mundo no futebol. O Brasil foi número 1 enquanto seu camisa 10 reinou por 14 anos no escrete.
A tarde do empate por 2×2 com a Iugoslávia, a 18 de julho de 1971, diante de 138.573 pagantes no estádio, sinalizou para o futuro da seleção como de elite, mas sem soberania. Pelé saiu para a entrada do gorducho Claudiomiro, paradoxo monumental a escrever em letras de vento: o retrato passava a ser o do substituto. O jogo terminou em 2×2.
O ufanismo do regime de exceção impunha o futebol como válvula de escape para a efervescente e dolorosa conjuntura política sem democracia, portanto Pelé desagradou e muito o Regime Militar, tanto que o General Presidente Garrastazu Médici, contrariado com a saída do principal item do cardápio da propaganda popular, faltou, contrariado, ao jogo contra os iugoslavos.
É maldade com os garotos de agora, os que enchem bancas de revistas em busca de figurinhas para álbuns da Copa do Qatar, insistir que o Brasil pratica o futebol mais bonito ou insuperável do planeta. Mentira. Fraude.
Com Pelé, que estreou aos 16 anos na derrota de 2×1 para a Argentina, gol dele, a 7 de julho de 1957 também no Maracanã, o Brasil ganhou três dos cinco mundiais conquistados. Pelé jogou quatro e estava nos três títulos, fulgurante em 1958 e 1970 e contundido no segundo jogo de 1962. Em 1966, Pelé caçado e, em controversa final com os alemães, os ingleses foram únicos a ganhar com o Rei em atividade.
Depois da volta olímpica de Pelé, o torniquete foi apertando. O Brasil ganhou duas Copas. Em 1994 e 2002. A Alemanha, papou três: 1974, 1990 e 2014. A Itália, duas: 1982 e 2006.
A Argentina, também dois canecos: o de 1978, vergonhoso, escandalosamente corrupto no suborno aos peruanos que abriram as pernas aos albicelestes que precisavam de 6×0, conseguiram e fariam 16 se fosse necessário.
Em 1986, a Argentina se redimiu à humanidade e ao esporte apresentando o semideus Maradona em desempenho impecável, driblando e abrindo clareiras com seu pé canhoto, gols dignos da pena de Jorge Luís Borges, o maior escritor portenho.
Emergente, a França conquistou sua primeira taça em casa em 1998, naquela lambança provocada pela convulsão de Ronaldo Fenômeno e pelo apagão psicológico do time de Zagallo, massacrado por Zidane num 3×0 de fechar a conta, sem direito a despedida.
Em 2018, deu França de novo. A Marselhesa tocava, também, pela segunda vez. Comandada pelo enjoado craque Mbappé, impressionante pela técnica veloz ou pela rapidez habilidosa.
A Espanha do lindíssimo tike-taka, o toque de bola envolvente e digno da arte brasileira dos anos dourados de Didi, Gerson, Rivelino, Zizinho, Zico, Falcão e Sócrates, impôs um ciclo lindo em 2010, pondo os adversários no ridículo, em roda de bobo, nos toques rápidos e deslocamentos de atordoar. Pena que fracassou feio quatro anos depois, time envelhecido e pedante.
A importância de Pelé é incontestável. Nada será igual a Ele. O Rei será Ele enquanto vida existir sobre a terra, embora sua natureza seja da amplidão divina. De carne é o Edson. De fascinação, é Pelé.
O Brasil, tendo Pelé, esmagou a França em 1958 por 5×2, a Suécia por igual escore, humilhou a Inglaterra, o Uruguai e a Itália em 1970. Sem ele, quase não vence o Zaire em 1974. Sem Pelé, qualquer concorrente requer os cuidados que ele pulverizava aos dribles e gols de placa.
O Brasil, ao contrário do que possa parecer, não deve desanimar. Tem um bom time. E a chance, maior que a dos últimos três torneios, no mínimo, de tentar, ao menos, se igualar aos alemães na liderança do grupo coeso e coerente dos campeões sem superioridade incontestável.