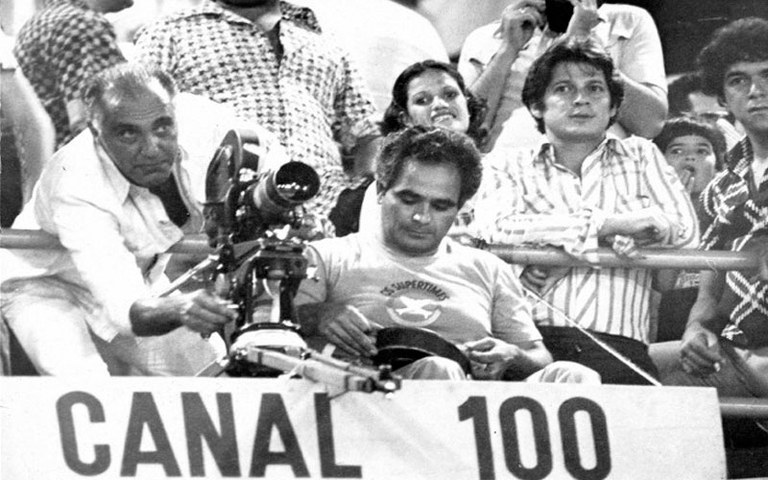por Rubens Lemos
Acordei de uma soneca no segundo tempo de Vasco 3×2 Botafogo, primeira partida da final do Campeonato Carioca. Estava empate e vi o gol da vitória do meu time no finalzinho. Dos 20, 25 minutos acompanhando chutões, carrinhos e caneladas na bola, esforcei-me para identificar algum jogador além do goleiro Martin Silva, do jovem Paulinho e do – vamos lá -, atrevido Pikachu.
Complicado. O futebol brasileiro anda numa mediocridade tão imensa e sideral que o último time do Vasco a ser escalado sem risco por mim é o do ano 2000, o da virada sobre o Palmeiras na Mercosul e do título brasileiro: Hélton; Clébson, Odvan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista; Nasa( Nossa Senhora dos Passes Bizarros!), Jorginho, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista; Euller e Romário.
Um vascaíno com 40 anos de amor e alguma memória não consegue desfiar 11 cabeças de bagre do último fim de semana. Um vascaíno que olhava, embevecido, o pai recitar o time de 1956: Carlos Alberto; Paulinho e Bellini; Laerte, Orlando e Coronel; Sabará, Livinho, Vavá, Walter Marciano e Pinga.
Um vascaíno que não esquece Mazarópi; Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata e Dirceu; Wilsinho, Roberto e Ramón de 1977. Ou Acácio; Galvão, Ivan, Celso e Pedrinho; Serginho, Dudu e Ernâni; Pedrinho Gaúcho, Roberto e Jérson, os esforçados de 1982 que tiraram a banca do Flamengo campeão do mundo. Ou os maravilhosos bicampeões de
1987/88: Acácio; Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho; Dunga (Zé do Carmo), Geovani e Tita (Bismarck); Mauricinho, Roberto e Romário.
Eram os cânticos dos dribles, lançamentos, gols de placa, que transpunhamos para o futebol de botão como numa incorporação mágica dos heróis em campo de madeira. Escalações duravam anos, decorávamos os reservas, hoje exuberâncias diante da falta de fundamentos básicos dos titulares mais apropriados a Olarias e Madureiras.
A minha amnésia é causada pela rotatividade medonha promovida por sanguessugas oficialmente chamados de empresários. Outro dia, o Vasco demitiu um cara cuja função era de gerente científico. Hilário imaginar o indigitado explicando em fórmulas, átomos e partículas,
como o baixinho Romário fazer sentar em elástico descadeirante, qualquer zagueiro transformado em molécula morta.
Perdeu-se a graça, a boa sacanagem, o migué, a molecagem, criaram-se gerações de robôs bem-comportados e inimigos do futebolisticamente liberto. Outro dia, o colega de trabalho, circunspecto como um Churchill em plena Segunda Guerra, bate no meu ombro e pergunta: “Como é chato o tal Carille!”. Perguntei quem era, ele explicou ser o técnico do Corinthians e respondi que do Corinthians conhecia Rivelino, Sócrates, Zenon e Edílson. “Você está ultrapassado!”, ele zombou.
Calei no meu Alzheimer precoce e fui ao Google, rever imagens de um timaço do Brasil nos anos 1970, com Zico, Rivelino, Paulo Cézar Black Power, Marinho Chagas e Nelinho. Nenhum risco de esquecê-los.