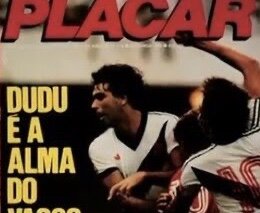por Rubens Lemos
Durante o período de Telê Santana na seleção brasileira, tempo que inclui duas Copas do Mundo, a função de ponta-direita começou a ser exterminada no Brasil. O humorista Jô Soares, toda segunda-feira em seu programa, berrava como se telefonasse ao técnico: “Bota ponta, Telê!”.
Durante a preparação, a partir de 1980, a camisa 7 ficou com Tita, do Flamengo, excelente driblador e criativo. Ruim de convivência e sutilmente citado pela boleirada como adepto da trairagem.
Tita, pretensioso, cobiçava a camisa 10 que nasceu colada ao corpo de Zico, seu chefe no Flamengo. Proporcionalmente, Tita queria o impossível como a paz no Oriente Médio. Tita testou Telê e se deu mal. Nunca mais foi convocado por ele quando abriu a boca para amplificar seus desejos.
No lugar de Tita, entrou o neguinho Paulo Isidoro, então no Grêmio. Craque, técnico e veloz, cumpriu bem a tarefa de ponta ajudando na marcação de meio-campo e permitindo ao exuberante Leandro, subir pela lateral-direita, transformando-a em Sambódromo permanente.
Na estreia contra a União Soviética, em 1982, Telê Santana, de quem a maioria só recorda os méritos, escalou o canhoto Dirceu no lado direito e terminamos o primeiro tempo perdendo de 1×0, frangaço do goleiro Valdir Peres em chute murcho do falecido meia ucraniano Andrey Bal. Viramos graças ao talento de Sócrates e Eder.
Em 1986, Telê cortou o ponta Renato Gaúcho, em sua melhor fase, por conta de uma farra com o lateral Leandro. Renato não foi à Copa e Leandro desistiu alegando solidariedade ao amigo no dia do embarque ao México.
A foto que ilustra a coluna é, segundo o inesquecível jornalista João Saldanha, a razão para a ira de Telê contra os homens de linha de fundo pela direita. Garrincha humilha o futuro técnico da seleção brasileira após uma série de dribles e o deixa prostrado no chão, vencido, vaiado, mortificado.
Saldanha, cujas mentiras tinham o sabor de fábula (dizia com firmeza que batalhou na Segunda Guerra com o general inglês Montgmomery), garantia que Telê foi escalado para marcar o torto espetacular. Uma missão que se dá a inimigo. O Fluminense precisava do empate para ganhar o campeonato carioca.
O Botafogo partiu para a vitória e enfiou 6×2 no tricolor. Uma das maiores exibições de Mané Garrincha. Naquela tarde de 22 de dezembro de 1957, diante de 125 mil pessoas no Ex-Maracanã, brotava, no inconsciente de Telê Santana, o expurgo a uma alegria que ele transformou em revanche. Segundo João Saldanha.