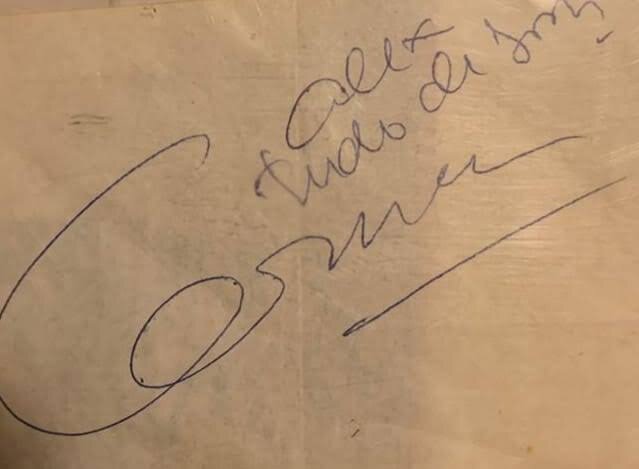por Paulo Roberto Melo
A primeira vez em que fui ao novo Maracanã, foi no dia 24 de outubro de 2013 – novo Maracanã, novo normal, acho que eu é que estou ficando velho. O estádio havia ficado pronto para a Copa do Mundo de 2014, de triste lembrança para todos nós, e, os jogos estavam servindo de teste para o evento. Vasco x Goiás se enfrentavam naquela noite no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco havia perdido o jogo de ida no Serra Dourada, por 2×1, portanto precisava ganhar por uma diferença de dois gols.
Meu irmão, Carlos Eduardo e eu, chegamos e nos colocamos nas arquibancadas superiores, e só esse nome já dá uma pista do que aconteceu com o bom e velho Maracanã. Tudo era muito diferente. Um estádio bonito, confortável, padrão FIFA, com o mesmo nome, estádio Mário Filho, mas não, não era mais o nosso Maracanã!
Não tinha mais a dimensão gigantesca do antigo templo sagrado do futebol, onde, num silêncio mortal, o grande Barbosa buscou aquela bola no fundo da rede na Copa de 1950; onde o Ademir Queixada dava aquelas suas arrancadas que enloqueciam o meu pai; onde o Garrincha corria e driblava e parava e corria e driblava de novo e cruzava e fazia gols que o levaram a ser eleito pela torcida como melhor do que Pelé; onde o Pelé fez fila, driblando meio time do Fluminense e cunhou a expressão gol de placa; onde, no mesmo ano, carimbou o passaporte para a Copa de 1970, com uma bomba, aproveitando uma rebatida do goleiro do Paraguai, fazendo estremecer as arquibancadas apinhadas de gente e ainda fez o milésimo gol, contra o Vasco, numa data que antes era conhecida como Dia da Bandeira (19 de novembro), mas acabou virando Dia do Milésimo Gol do Rei Pelé; onde o PC Caju fez embaixadinha na frente do Moisés e foi premiado com um pontapé, que zagueiro que se preza não recebe Belfort Duarte; onde o Gérson calibrou a canhotinha para depois encantar o mundo no México; onde o Rivelino inventou o elástico; onde o rei Zico nasceu, cresceu e se imortalizou, batendo faltas como se jogasse a bola com as mãos, deslocando os goleiros nas cobranças de pênalti e invadindo a área adversária com a bola dominada para fazer gols lindos e alguns… dolorosos; onde o Roberto Dinamite deu aquele chapéu no zagueiro Osmar e fuzilou o Wendel com um tiro de voleio; onde o Maradona, na Copa América de 1989, quase fez do meio de campo aquele gol que o Pelé não fez, mas a bola, prudente, se lembrou da placa, da rivalidade e de tudo mais e preferiu quicar no travessão e ir para fora; onde também nasceram para o futebol o Romário, o Bebeto, o Edmundo, o Felipe e o Pedrinho; onde tantas vezes eu, meu pai e meus irmãos rimos e choramos as alegrias e as dores de tantas vitórias e derrotas. Não, não era mais o Maracanã.
Sei que muitos vão ler estas linhas e me achar um saudosista chato e certamente vão dizer que – “o estádio precisava se modernizar.”; “os tempos são outros.”; “está tudo mais limpo e mais seguro.” Sou obrigado a concordar. Afinal, confesso que uma impressão que eu tinha quando ia aos jogos no antigo Maracanã, era que o estádio nunca tinha ficado pronto de verdade, tantos eram os entulhos pelos corredores internos, as colunas com ferragens à mostra, sem falar dos banheiros, queinvariavelmente estavam alagados, não extamente de água.
É verdade. Tudo isso fazia parte do antigo Maracanã. Mesmo assim, antes de começar aquele jogo, no novo Maracanã, eu e meu irmão sentíamos uma saudade imensa pulsando dentro do nosso peito. Parecia que faltava alguma coisa, e não era o cimento incômodo dos degraus que antes sujavam os fundilhos das calças, nem o torcedor mais humilde, impedido de frequentar o novo estádio por causa dos novos preços e nem o vendedor de amendoim torrado. Nós olhamos em volta com atenção, como se estivéssemos conferindo um jogo de sete erros. Não demorou para que chegássemos à resposta. Aquele estádio novo não tinha a geral!
Mandatária suprema dos que ganham dinheiro com jogos de futebol, Dona Fifa não queria mais que seus súditos cariocas assistissem aos jogos em pé. Ela queria todo mundo sentado em lugares marcados, com todo o conforto que um bom punhado a mais de reais certamente podia comprar. Talvez ela quisesse também, que, assim como europeus, nós, selvagens pela própria natureza, comemorássemos os gols apenas com aplausos, mas acho que isso ela nunca vai conseguir.
Dona Fifa nos impôs um estádio novo, e alguns governantes ávidos por obras e comissões rapidamente disseram que sim. Mas a minha memória de torcedor, por enquanto, ainda é livre. É uma memória afetiva que envolve sentimentos, aromas, pessoas e acontecimentos. Hoje, quero falar da saudade que eu sinto da geral do Maracanã.
Saudade da entrada
O corredor que dava acesso à geral, era escuro, iluminado apenas por lâmpadas fracas que pendiam do teto, que era bem alto. Confesso que percorrer esse trajeto nunca foi muito agradável. Uma das paredes do corredor tinha tijolos vazados, e, por eles, víamos uma outra parte das entranhas do estádio, onde havia carros estacionados no meio do nada. Um ambiente bem sombrio. Uma vez eu estava chegando à geral por esse caminho com meu pai e meus irmãos quando surgiu alguém e se agarrou ao meu pescoço. Meu irmão José Gulherme partiu logo para encaçapar o agressor, mas, antes que ele desferisse o primeiro sopapo eu descobri que o ataque era uma brincadeira sem graça de um colega de escola.
Ao chegar à geral, a imensidão do estádio que se apresentava diante dos olhos, proporcionava uma sensação fantástica. Estar em um nível abaixo da arquibancada, ouvindo o barulho das torcidas, a música tocada pelas charangas e vendo a nossa volta, acima de nossas cabeças, o colorido das bandeiras e faixas, depois de ter deixado para trás aquele corredor sombrio, sempre mexia comigo.
Saudade dos aromas
Na geral e, só na geral, conseguíamos sentir o aroma fresco do gramado. Era um aroma que me levava à infância, quando descia rolando a ladeira de grama da Quinta da Boa Vista. Ali, na geral do Maracanã, experimentávamos uma ilha de natureza, cercada de concreto por todos os lados.
Havia outros aromas. Mais de uma vez, fui alvejado por saquinhos ou respingos de um certo líquido cuja a cor e a origem eram pra lá de duvidosas. A tarefa de cheirar a roupa ou a parte do corpo atingida, para tentar identificar a procedência do líquido às vezes confirmava terríveis suspeitas. Algumas vezes, senti alívio ao constatar que era apenas água, outras, o melhor era ter a certeza de um bom banho assim que chegasse em casa.
Não posso deixar de falar do aroma delicioso do cachorro quente da Geneal, que invadia minhas narinasassim que o vendedor abria a caixa. Havia o aroma dos leitinhos da CCPL, vendidos em uma embalagem triangular, com vários sabores: chocolate, caramelo, morango. E havia também o cheiro inconfundível de cerveja que pairava no ar, vindo dos copos de papelão, dos hálitos e das roupas das pessoas que estavam em volta. Sim, porque muitas vezes o líquido amarelo e espumante que vinha do céu era apenas… Brahma na jogada.
Pode parecer piegas dizer isso, mas a geral do Maracanã tinha aroma de povo. Nada a ver com o que disse, há muito tempo, um ex-presidente da República em relação a odores humanos e equinos. Era um cheiro de gente, de igualdade social, de transpiração, desodorante barato e sabonete; cheiro de corpos, de pessoas jovens, adultas e idosas, movidas pela paixão pela bola, convivendo a céu aberto em um mesmo espaço e isso só acontecia porque o ingresso era barato, menos da metade do da arquibancada.
Saudade do contato
Aqui, a saudade se me apresenta de duas formas:
A primeira, no contato com o povo. Em tempos de poucos jogos televisionados, o acesso ao Maracanã era bem mais fácil. Desse modo, os torcedores folclóricos, muitas vezes fantasiados, faziam da geral o seu palco.
Tinha o torcedor do Flamengo que dava instruções, orientando a defesa do seu time, grudado na grade, próxima ao campo. Tinha o torcedor que também era vendedor de amendoim e que, com um fôlego absurdo, dava sequências de assobios tão fortes, durante o jogo todo, que se podia escutar sua série de apitos mesmo que ele estivesse do outro lado da geral e, às vezes, até nas transmissões pela TV. Torcedores dos dois times que estavam em campo, assistiam ao jogo juntos, muitas vezes lado a lado um suportando a alegria do outro. Essa convivência, lógico, nem sempre era tão romântica epacífica. Também era comum quando alguns clarões se abriam no meio da massa, como indício de que estava acontecendo aquilo que cantaram Aldir Blanc e João Bosco: um pega na geral.
A segunda forma de saudade diz respeito, como dizia Jorge Cury, aos “artistas do espetáculo”. Na geral, a proximidade com o campo era tanta, que era como se o geraldino estivesse na beira do gramado. Assim, eu pude testemunhar alguns fatos bem bacanas.
Uma vez, um amigo tricolor, em um jogo do Fluminense, gritou quando o ponta esquerda Tato ia bater um escanteio: “Tato, bota na cabeça do Washington!” O ponta virou para a geral e fez um sinal de positivo com o polegar. O escanteio foi cobrado na cabeça do Washington e… gol!
Teve o dia em que o meu velho pai se esqueceu da discrição que o caracterizava e saiu do sério com o polêmico árbitro José Roberto Wright, Depois de um primeiro tempo com muitas marcações duvidosas contra o Vasco, o juizão vinha saindo do campo e começava a descer as escadas do túnel do vestiário dos árbitros. A gritaria e os xingamentos na sua direção eram a prova clara de que a sua habitual necessidade de querer aparecer mais do que os jogadores tinha sido cumprida. No primeiro degrau, atraído pelos apupos que vinham da geral, o árbitro, todo orgulhoso, olhou para o povo enfurecido. Meu pai e eu estávamos bem em frente ao túnel. Dessa vez o seu Zé não se controlou, esqueceu os bons modos e gritou a plenos pulmões na cara do homem de preto: “Filho da p*#*!” Até o fim de sua vida, meu pai dizia com imensa satisfação que o Wright tinha visto ele o xingar.
Aliás, nada mais gostoso do que, ao final de uma partida, ficar em frente ao túnel que dava acesso aos vestiários dos jogadores, para aplaudir os heróis e xingar os vilões do jogo. Os aplausos eram retribuídos com acenos agradecidos e os xingamentos eram a trilha sonora fúnebre da saída de alguns jogadores.
Claro, era maravilhoso também quando os jogadores vinham comemorar os seus gols perto dos torcedores da geral. O Luisinho Tombo gostava de subir no murinho, ainda quando jogava pelo América e depois no Flamengo, acompanhado do Zico e do Doval. Todos os artilheiros sempre corriam em direção à torcida, ao marcarem seus gols. Parecia que recarregavam suas forças com a energia que vinha dos geraldinos.
Saudade da liberdade
Na geral, por estar de pé, o torcedor tinha mais liberdade. Quando alguma bola vinha do campo, alguns até arriscavam umas embaixadinhas, mas tinha que ser rápido, pois a PM chegava logo.
Muitos geraldinos gostavam de ficar no trecho embaixo das cabines de rádio, bem no meio do campo. A localização era triplamente estratégica: permitia uma visão mais ampla do gramado; protegia dos arremessos de saquinhos contendo líquidos suspeitos, e, permitia e ver os craques da informação nas cabines de rádio: Jorge Cury, Waldir Amaral, José Carlos Araújo, Washington Rodrigues, João Saldanha, Luiz Mendes, Sérgio Noronha, Gérson e outros.
Uma outra parte de torcedores, preferia acompanhar o ataque do seu time. Era muito bom também, em cobranças de pênaltis, correr para se colocar atrás das balizas e ver abola entrando. Numa época, o Roberto Dinamite cobrava faltas com uma precisão tão grande, que a torcida fazia a mesma coisa, corria para trás do gol, como se fosse um pênalti. Ah, que saudade do Dinamite. Que saudade de ver da geral um gol do Dinamite..
Saudade… Palavra estranha essa, que, dizem, só existe na língua portuguesa. Sentimento arrebatador, ora de alegria, ora de tristeza.
Sentados em nossos lugares marcados da arquibancada superior, meu irmão e eu olhávamos o novo Maracanã, tentando resgatar o antigo. O velho campo só está vivo agora nas lembranças, de jogos memoráveis vistos da arquibancada ou da geral. Sensações, aromas, vitórias, derrotas, pessoas amadas que se foram, gente desconhecida que já conhecíamos tão bem, povão, família, radialistas, craques…
A propósito, naquela noite o Vasco ganhou do Goiás por 3×2, e acabou eliminado da Copa do Brasil