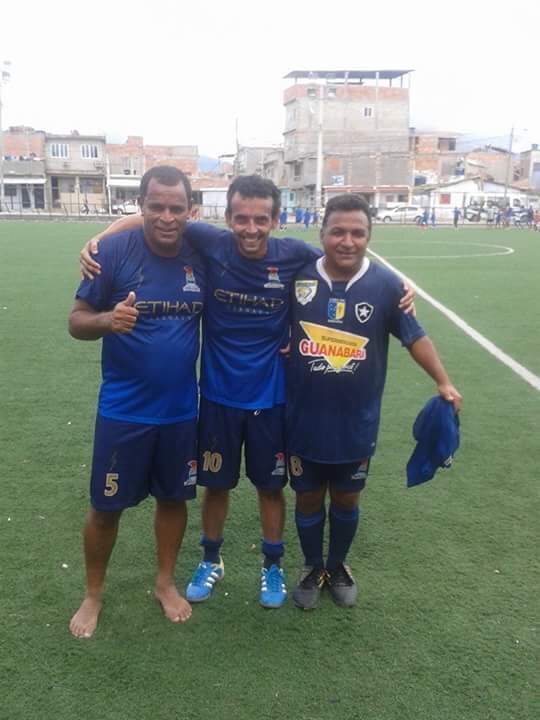Hoje tem marmelada!
Corria o ano de 1960, quando em outubro veio ao mundo um certo Antônio Oliveira Filho, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. O pai, Seu Antônio Oliveira, um santista, era ex-jogador de futebol que chegou a jogar na infância com Dondinho, pai de Pelé. Assim que o filho começou a dar os primeiros passos, seu Oliveira deu uma bola para o garoto e dos 7 aos 15 anos levava o menino para os campos de ‘peladas’ da cidade. Pode se dizer que foi o seu primeiro treinador. Dava gosto de ver o garoto marcando gols nos campos de várzea de Araraquara e correndo para comemorar com os companheiros. Mas, o que poucos entendiam era porque com aquela vasta cabeleireira balançando ao vento, a cada gol os torcedores gritavam: “Careca, Careca!”. Pois é, a história do apelido só ganhou fama e foi esclarecida anos depois, junto com os primeiros sinais de que Antônio surgia como um novo craque do futebol brasileiro, lá pelo final dos anos 70, jogando no Guarani, de Campinas, o Bugre: é que quando criança, enquanto não estava correndo atrás da bola nos campos de várzea, o pequeno Antônio estava ao lado do pai, acompanhado pelo rádio ou pela TV, os programas do palhaço Carequinha (nascido em Rio Bonito, mas morador de São Gonçalo por toda a vida), de quem era fã. Daí, o cabeludo Antônio, virou o Careca, que anos depois virou artista da bola, encantando plateias pelo mundo, como Carequinha fazia com seu circo e sua trupe.
Para isso, Careca começou sua ‘turnê’ por Campinas, a 186,5 quilômetros de casa, onde aos 15 anos conheceu seu primeiro ‘palco’, o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lá, antes de se tornar o protagonista do espetáculo, teve que dormir por muitas noites de calor e de frio no alojamento dos atletas amadores, sob as arquibancadas de concreto, de onde no futuro receberia os primeiros aplausos do público.
Do concreto, fez seu travesseiro, da laje, o cobertor, e assim, no chamado ‘quartão’, alojamento com 25 beliches, passou a sonhar em um dia vestir a camisa 9 do time principal do Guarani.
E três anos depois o sonho virou realidade, ao ser lançado aos 17 anos na equipe principal do Bugre, pelo treinador Carlos Alberto Silva, num time que tinha ‘feras’ como Zenon, Renato, Capitão, Zé Carlos, entre outros, e que despontava como o ‘azarão’ para disputar o título do Brasileirão de 1978.
E foi o que aconteceu naquela grande noite de 13 de agosto, com todos os 27 mil ingressos da bilheteria vendidos, e transmissão pela TV para todo o país, Careca brilhou durante os 90 minutos do espetáculo e foi aplaudido de pé pela multidão ao marcar o gol do único título brasileiro da história do Guarani.
Depois da consagração daquela noite, o ‘circo’ do futebol levou o ‘astro’ Careca a se apresentar por várias partes do Brasil e do mundo, brilhando em várias ”companhias’ diferentes: São Paulo (onde recebeu a visita do ídolo Carequinha antes da decisão contra o Guarani, pelo Brasileirão de 1986), Napoli (Itália), Seleção Brasileira, Kashiwa Reysol (Japão), Santos, Campinas e São José (RS).
Por tudo que fez pelo futebol brasileiro e mundial, Careca é o terceiro personagem na série ‘Vozes da Bola’, homenagem do ‘Museu da Pelada’ ao Dia Nacional do Futebol (19 de julho).
por Marcos Vinicius Cabral
Como foi o seu início de carreira?
Jogava ‘peladas’ em Araraquara, nas categorias de base dos 7 aos 15 anos. Um amigo do meu pai que era ‘olheiro’ e havia jogado no Guarani, o Creca, me levou para fazer um teste lá. Passei, deu certo e fiquei por lá. Mas o começo de tudo foi lá no ‘rapadão’ do interior, que era mais terra do que grama. Mas, enfim, foi aonde comecei e graças ao apoio do meu pai que me levava nos campinhos de várzea. Profissionalmente eu estreei no final de 1977, contra o Juventus.
Como surgiu o apelido Careca?
O apelido Careca vem do palhaço Carequinha, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente na véspera do jogo da final do Brasileirão entre Guarani e São Paulo, em 1986. Ele ficou sabendo por meio de uma matéria que fizeram comigo, que o apelido Careca surgiu em sua homenagem. Aí, saiu de São Gonçalo e na véspera do jogo, visitou o hotel onde estávamos concentrados aqui em Campinas. Se maquiou todo, se vestiu de palhaço e foi até a porta do meu quarto e fez essa surpresa maravilhosa. Desde os 6 anos, já tinha o apelido de Carequinha, e conforme fui crescendo, me tornei Careca. Mas eu gostava muito dele, ouvia seus programas de rádio e foi um ser humano muito marcante na minha vida.
Quem foi sua grande inspiração no futebol?
Sem sombra de dúvidas foi o Tostão, que acompanhei na Copa de 1970. Comecei a conhecer um pouquinho de futebol com 9 anos, com a Seleção Brasileira. Na minha casa não tinha televisão e eu ia na casa de uma tia assistir aos jogos do Brasil, só para ver o Tostão jogar. Eu tinha uma admiração enorme e seguia alguns dos movimentos dele. Ele era um jogador de muita movimentação, inteligente, que fazia gols, mas dava muitas assistências, mais ou menos o meu estilo anos depois. Portanto, a minha inspiração, quando garoto, sempre foi o Tostão.
É verdade que para realizar seu sonho de ser jogador de futebol você chegou a dormir embaixo das arquibancadas do estádio Brinco de Ouro, em Campinas?
Venho de uma família de boleiros, pois meu pai jogou futebol, mesmo sendo criado em um orfanato, lá em Santos. Com 15 anos, em 1976, cheguei no Guarani e dormia no alojamento embaixo da arquibancada mesmo, pois era o que tinha naquela época. Mas fui muito bem acolhido, com alimentação, treinamentos… enfim, fiquei duas ou três semanas sendo avaliado, até assinar meu primeiro contrato. Essas eram as condições do clube, mas mesmo assim sou muito grato.
Você apareceu para o mundo do futebol no Guarani, campeão brasileiro de 1978, o primeiro time do interior a conquistar o título nacional. Qual foi a sensação desse título?
Já no meu primeiro ano de profissional, em 78, conseguimos esse título, que para um time do interior, era inédito, e a conquista foi maravilhosa. Nosso objetivo era fazer uma boa campanha, pois no início, poucos se conheciam no time. Mas pelo que fizemos durante o campeonato, foi merecido. Não foi um título por acaso e sim conquistado com organização, disciplina e determinação, sem falar no elenco, que era maravilhoso.
Em cinco anos de Guarani, você marcou 118 gols, o que garante a terceira posição na lista de artilheiros da história do Bugre. Qual o seu sentimento em relação ao clube que abriu as portas para seu futebol?
Comecei profissionalmente em 1978, sendo campeão, e fiz 13 gols junto com Zenon, e nos tornamos artilheiros do time. Sem dúvida nenhuma é só gratidão e não me importo de ter feito 118 gols ou de ter jogado tantas partidas. O importante é o reconhecimento e a valorização que eu tenho até hoje aqui na cidade, já que foi a primeira camisa que vesti. Realmente, o Guarani foi tudo na minha vida, foi meu alicerce, a segunda família que eu tive aqui em Campinas. Sou muito grato por isso e do carinho de todos. Mas em especial aos treinadores, que me dirigiram nas categorias de base e ao primeiro presidente, Ricardo Chuffi.
O gol do primeiro título brasileiro de um clube do interior foi marcado por você com 17 anos. Foi o gol mais importante da sua carreira?
Não tenha dúvida. Fazer um gol no campeonato brasileiro, com 17 anos, em uma final, e, ainda por cima sendo campeão, realmente para mim foi marcante. Eu acho que não foi um gol bonito, mas o mais importante da minha vida e da minha história em tantos anos como jogador de futebol. Realmente me marcou muito e abriu as portas, não só para o Brasil, mas para o mundo. É claro que não existia a mídia de hoje, como internet, celular, mas com certeza a reprodução foi muito grande na época. Foi o gol mais importante da minha carreira.
O ex-treinador Carlos Alberto Silva disse que você foi um dos melhores atacantes com quem ele trabalhou. E quem foi o melhor técnico que te dirigiu?
Carlos Alberto Silva, sem dúvida nenhuma, foi o meu primeiro treinador profissional. Um cara que me ajudou bastante, era um treinador jovem, mas que já tinha a sua filosofia de trabalho. Eu moleque, com 16, 17 anos, e com certeza ele foi responsável por boa parte desse meu crescimento como jogador e da minha história. Depois tive outros treinadores, como Pepe, Telê Santana na Seleção, mas com quem me dei muito bem foi com o Cilinho, que foi um dos caras que me divertia bastante jogando, pois ele gostava do jogo bonito, com simplicidade e objetividade. Mas sem dúvida nenhuma, destacaria o Carlos Alberto Silva no começo da minha carreira, e no decorrer dela, o Cilinho, que merece um destaque legal na minha história.
Na Copa de 1982, na Espanha, você se contundiu e foi cortado. Quais suas lembranças daquele time?
Minha passagem pela Seleção Brasileira foi muito legal. Em 81, eu já estava com o time profissional, tendo o Telê (Santana) como supervisor na sub-23, em Toulon. O Vavá era o treinador e fomos bicampeões. Em 82, fui convocado e infelizmente, quatro dias antes da estreia tive uma distensão muscular, e acabei sendo cortado. Foi um momento muito triste, pois estava vivendo uma grande fase, com 21 anos, no auge. E aquela Seleção maravilhosa, que dava meio toque na bola e realmente, só de gênios, de jogadores diferenciados, mas que não ganhou. Apesar do corte, dessa tristeza, tenho ótimas recordações de Zico, Sócrates, Leandro, Júnior, Falcão, Cerezo, Serginho, Éder, Paulo Isidoro, Waldir Peres, Oscar, Luizinho… realmente jogadores muito diferentes na época, caras diferenciados.
Cortado da Seleção, você acabou indo parar no São Paulo. Como foi isso?
Foi em 83. Aconteceu oito meses depois da Copa do Mundo. Eu fiz minha recuperação no Guarani e voltei a jogar no Campeonato Brasileiro, e no fim do ano as negociações começaram. Jogar no São Paulo foi uma escolha minha e o clube tinha já naquela época uma excelente estrutura. Em janeiro de 83, acertei minha ida para o Morumbi. Ganhamos o Paulista, mas o Brasileiro foi muito importante não só para mim, mas para todo torcedor são-paulino.
O campeonato brasileiro de 1986 é especial para o são-paulino, pois era um grande time. Você marcou 25 gols naquela competição. Foi sua maior conquista com a camisa tricolor paulista?
Esse título em cima do meu ex-clube tem um lado triste para o torcedor do Guarani e muita alegria para o do São Paulo. Realmente, jogamos muito nesse campeonato e o Guarani tinha uma grande equipe. Empatamos com eles no Morumbi e depois decidimos no Brinco de Ouro, em Campinas. Foi um jogo emocionante, onde foi 1 a 1 nos noventa minutos e 3 a 3 na prorrogação. Eu me sinto abençoado, primeiro por ter dado o título ao Guarani em 78 e ter conquistado o bicampeonato Brasileiro pelo São Paulo, infelizmente, em cima do Guarani. Mas ali eu era jogador do São Paulo e com orgulho, honra, muita determinação, fomos ao nosso limite. Faltando 1 minuto para terminar o jogo, perdendo de 3 a 2, tive a felicidade de num sem pulo empatar o jogo e nos pênaltis, fomos campeões. Foi um título maravilhoso, onde fui artilheiro da competição com 25 gols e o Evair acabou sendo o vice com 24. Mas o time do Guarani era muito bom, com Catatau, o próprio Evair, Ricardo Rocha, João Paulo, Boiadeiro… eram grandes jogadores, mas o São Paulo era uma máquina. Tínhamos Pita, Silas, Muller, Sidney, Nelsinho, Bernardo, eu, Márcio Araújo, Oscar, Darío Pereyra, Gilmar no gol, que já fazia a diferença na época. Foi um ano muito iluminado para todos nós.
Certa vez você afirmou: “Os momentos que vivi no Napoli, de 1987 a 1993, não têm igual. Chegava num lugar, tinha que chamar a polícia para fazer um cordão de isolamento para poder entrar no carro”. Podemos concluir que foram os melhores anos da sua vida como jogador de futebol?
Em 1987, me transferi para o futebol italiano que era o melhor naquele momento, considerado o número um no mundo. O meu sonho era jogar no futebol daquele país e também ao lado de Maradona. Foi programada a minha ida para o Napoli, mesmo tendo clubes espanhóis e franceses interessados na minha contratação. Me interessei pelo Napoli, que era um time que tinha acabado de conquistar seu primeiro título depois de 63 anos e Maradona era sua principal estrela. Foi um sonho realizado, onde nos divertimos muito, com uma cidade linda e um povo muito caloroso. Inclusive foi ali que meus filhos cresceram e foram alfabetizados, então, marcou bastante. Hoje, quando volto a Napoli, às vezes, não consigo realmente sair nas ruas, mas naquela época de jogador era muito pior, pois andar pelas ruas, dirigir nas estradas ou até mesmo fazer compras era muito difícil. Muitos vezes tive que chamar seguranças, policiais para abrir caminho para pegar meu carro e ir embora. Nesses anos todos como jogador de futebol, os torcedores napolitanos me marcaram bastante.
Nas eliminatórias para a Copa de 1994, você deixou a seleção. O que houve de fato?
Em 1993, estávamos nas eliminatórias e sempre fui uma pessoa muito transparente em querer o bem para um futuro melhor àqueles que poderiam vir a conquistar alguma coisa pela Seleção. Sempre busquei meu objetivo, mas tivemos nesse período muitas confusões, desde 90, com os dirigentes, diretores, patrocinadores. Enfim, problemas externos que acabavam os jogadores levando a culpa. Ali, me sentindo mais experiente naquele grupo, com 12 anos de Seleção, me sentia no dever de fazer algo, ou até tentar mudar as coisas. Mas o sistema era complicado de se mudar em virtude das gestões dos presidentes. Infelizmente, minhas passagens não foram das melhores, mas eu só tenho que agradecer, mesmo em 82, quando machucado fui cortado, depois em 86 e 90, com outros presidentes. Porém, me sinto honrado em ter vestido a camisa do Brasil e gostaria sim de ter conquistado uma Copa do Mundo. Infelizmente, não era para ser. Em 93, eu via tanta coisa errada e gostaria que não acontecesse mais ali no momento e dali para frente. E naquelas eliminatórias que cheguei ao meu limite e pedi a dispensa, chamando o Parreira, treinador, o Zagallo, auxiliar, o Ricardo Teixeira, presidente, e os jogadores, e comuniquei a minha decisão. A gente tentava fazer as coisas diferente e resultava na mesma coisa do passado e por isso, resolvi sair e dar oportunidade para outro jogador.
Como foi a experiência de jogar no Japão?
Foi positiva. Quando saí do Napoli, em 93, era um sonho pessoal conhecer o país e seu povo. Um povo disciplinado, um povo de superação e fiquei lá até 96. Aprendi muitas coisas lá, fiz grandes amigos, inclusive, que foram jogadores da Seleção Japonesa. Meus filhos cresceram lá, estudaram em escola publica e tudo foi bacana. Fui bem recebido, bem tratado pelo povo japonês e foi uma experiência enriquecedora.
Você sempre foi santista, correto? Ter jogado no time do Rei do futebol foi um sonho realizado?
Desde criança. Éramos santistas por influência do meu pai, que nasceu no Guarujá, foi criado em Santos e acabou sendo adotado por um casal em Bauru, onde chegou a jogar com o seu Dondinho, pai do Pelé. Esse é um motivo muito forte para nossa família toda ser santista, né? Tivemos o prazer de conhecer Seu Dondinho e Dona Celeste, pais do nosso Rei Pelé, e na sequência realizei o sonho de vestir a camisa do Santos. Tempos depois, reencontrei ali o Pelé e foi emocionante, mais um sonho realizado. Mas ter jogado lá por três meses, foi para realizar um desejo de meu pai, que eu sabia que ia gostar de me ver jogando no Santos. Foi esse o motivo.
O Maracanã completou 70 anos recentemente. Quais são as suas primeiras lembranças como jogador no estádio?
O Maracanã completou 70 anos e as lembranças são maravilhosas. Tenho recordações de gols pelo Guarani e São Paulo, mas a mais marcante foi um amistoso pela Seleção Brasileira, jogando contra a Alemanha, em 1981. Se não me engano foi 1 a 0 esse jogo, antes da Copa do Mundo, e um estádio muito cheio em que o Telê Santana já era o treinador. Esse jogo me emocionou porque quando era jogo do Guarani ou do São Paulo ali naquele estádio, sempre era torcida contra e especialmente naquela partida, a torcida era única, a nosso favor. O Maracanã era iluminado e naquele jogo, representar o Brasil foi de arrepiar.
Como você analisa a falta de atacantes no futebol brasileiro atualmente?
Hoje temos uma carência de atacantes, daquele verdadeiro matador, o camisa 9, o jogador que tem obrigação de fazer os gols. Tiramos esse foco dele, esquecendo um pouco de se encontrar esse goleador. Perdemos com isso referência, com os pontas direitas e esquerdas e o centroavante sendo aquele ‘pivozão’. Perdemos isso. Passamos a copiar coisas da europa e nossa referência de grandes atacantes, grandes jogadores de área, tanto no espaço curto ou na jogada aérea, foi deixada de lado. A bola está difícil de chegar com qualidade e os laterais que antes defendiam, se tornaram pontas e os pontas não existem mais. O sistema mudou bastante e hoje temos essa grande dificuldade.
Defina Careca em poucas palavras?
Fantástico em todos os sentidos, e que, quando jogava, gostava de se divertir.
No dia 19 de julho foi comemorado o Dia Nacional do Futebol. O que o futebol representou para o Careca?
O futebol foi tudo para mim. Tem essa influência do meu pai, que na época jogava e buscou esse sonho. Então, foi uma realização desse sonho, que busquei com alegria e com prazer, com os amigos que fiz. Hoje, tudo o que tenho, realmente, veio do futebol por meio de conquistas, dos contratos que assinei, pelas propagandas que fiz e sou muito grato a Deus pelo dom de ter sido jogador.