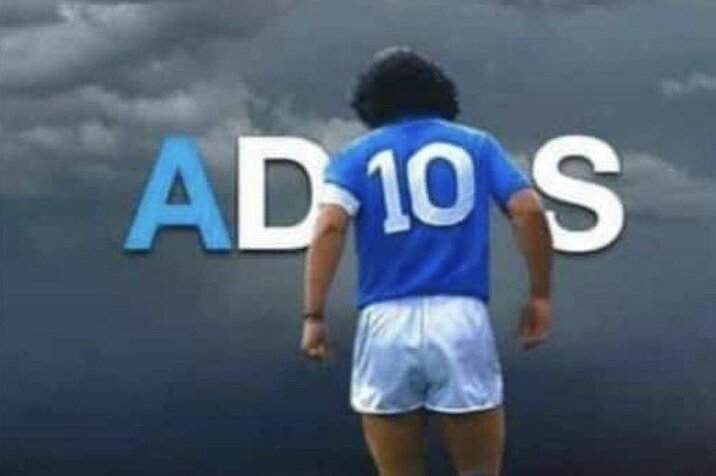Taxado por seu conterrâneo e mestre do radiojornalismo esportivo, Luiz Mendes (1924-2011), como o ‘lateral do cruzamento certo’ – a história de um lateral, seja direito ou esquerdo, passa por este fundamento para os arremates ao gol adversário.
Paulo Roberto saiu de Viamão para ganhar o futebol brasileiro até chegar à seleção, onde não teve êxito por motivos que não estavam ligados ao seu poderio físico, aeróbico e técnico.
Foi um lateral digno de estar na galeria dos grandes da posição. Não é para qualquer um ser campeão Brasileiro, aos 19 anos, e aos 21, campeão da Libertadores da América e do Mundial Interclubes.
Foi desta forma que Paulo Roberto iniciou sua saga de levantar troféus pelos clubes que tiveram a honra de tê-lo na faixa direita do campo.
Em 1984, arriscou-se no São Paulo, e no ano seguinte, no Santos. Em ambas as passagens pelo futebol paulista foram suficientes para encerrar sua passagem pelo futebol bandeirante.
Em 1986, chegou ao Rio de Janeiro para fazer história com a camisa do Vasco. Sagrou-se bicampeão Carioca, em 1987/1988 – a última vez que o Vasco foi campeão duas vezes consecutivas do Carioca havia acontecido em 1949/1950 – Paulo Roberto também marcou sua história no Botafogo, ao chegar em 1989.
No ano seguinte, bicampeão Estadual com o time da Estrela Solitária – a última vez havia sido em 1967/1968.
Nas Alterosas, foi campeão nos dois clubes. Chegou primeiro à Toca da Raposa para voltar a ser campeão de títulos nacionais e internacionais. Também foi bicampeão Mineiro, desta vez de forma inusitada, pois em 1994 vestindo a camisa do Cruzeiro, e no ano seguinte, já com o figurino preto e branco do Atlético-MG.
Saber qual o gol mais bonito que fez na carreira, é uma curiosidade que ficará no ar e poderá ser respondida pelos leitores do Museu da Pelada: um pelo Vasco contra o Flamengo pelo Carioca de 1988, quando chutou quase do meio de campo enquanto Zé Carlos (1962-2009), a muralha rubro-negra, bebia água após a saída de bola do Vasco em virtude do gol de empate do Flamengo; ou o gol de falta pelo Cruzeiro contra o Vasco na Copa do Brasil de 1993 lá do meio da rua igualando o placar e levando o time Celeste à final e ao título, consequentemente, da competição?
O nosso 37° personagem do Vozes da Bola enaltece os clubes que defendeu, a amizade com Renato Gaúcho desde as categorias de base, sua reverência ao ídolo Nelinho, carregando consigo a honraria de ser o jogador que mais vezes vestiu as camisas de clubes de massa no Brasil – nove. Ele, cuja mãe era professora, deu aulas na faixa direita dos campos de futebol Brasil afora.
Por Marcos Vinicius Cabral
Edição: Fabio Lacerda
Como foi a infância de Paulo Roberto Curtis Costa, em Viamão, no Rio Grande do Sul?
Inesquecível. Cidade pequena, todo mundo próximo um do outro e todos se conheciam. Eu tenho as melhores recordações dessa fase da minha vida. O mais legal era quando moravávamos nessa cidade do interior e jogávamos bola na rua e nas folgas das aulas dentro da escola. Havia, lá em Viamão, onde nasci ,e passei minha infância, dois campos, e o pessoal adorava jogar futebol. Até hoje está marcado na minha vida tais recordações.
Você jogava em um pequeno clube de futebol amador de Viamão chamado Tamoio Futebol Clube. Como foi descoberto pelo Grêmio?
Eu jogava no infantil do Tamoio Futebol Clube e graças a um amistoso contra o Grêmio, me destaquei jogando no meio de campo. Cheguei a marcar um gol nesta partida. Depois disso, houve o convite para fazer um teste. Fui para Porto Alegre, fiz o teste e passei. Joguei por três anos conquistando títulos e me tornando um ídolo do clube.
No Tricolor gaúcho, você foi campeão Brasileiro de 1981, da Libertadores, e do Mundial Interclubes em 1983. Como foi escrever seu nome na história do clube com esses títulos?
Poxa, foi muito importante isso! Conquistamos os principais títulos da história do clube como. Fomos o primeiro time gaúcho a conquistar títulos dessa magnitude. Eu vou completar 26 anos que parei de jogar nesse ano de 2021, e tenho o maior orgulho de saber que o Paulo Roberto está na história do Grêmio. E tenha certeza, que meus filhos sabem disso e, futuramente, os meus netos vão saber.
É verdade que você era meio-campo e quem te colocou para jogar na lateral foi Ênio Andrade? Como foi isso?
É verdade. Quando comecei a jogar no Tamoio Futebol Clube eu era meio de campo e cheguei no Grêmio como tal. Mas de vez em quando, na base, atuava na lateral-direita e o ‘seu’ Ênio Andrade me viu e sabia das minhas características. Não demorou muito e surgiu uma oportunidade no profissional. Como ele sabia que eu tinha jogado na base como lateral, me aproveitou. Nós acabamos sendo campeões brasileiros em 1981 e devo muito ao professor Ênio Andrade por ter enxergado em mim o jogador que ele precisou na ocasião.
Você formou com Renato Gaúcho um ótimo lado direito no estádio Olímpico e campos afora. Como era jogar com ele?
Foi maravilhoso. O Renato é um grande amigo, e a gente começou junto nas categorias de base do Grêmio quando ele veio do Clube Esportivo Bento Gonçalves. Nossa parceria começou aos 15 anos quando começamos a jogar juntos e criamos um bom entrosamento pelo lado direito. Mas não foi apenas no Grêmio que jogamos juntos e tivemos bom entrosamento. Depois repetimos nossa parceria no Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e na seleção brasileira. Mas o Renato foi um grande jogador, um cara que cresceu comigo no Grêmio. Tenho uma ligação forte e um carinho especial. Foi muito legal ter jogado com ele nos clubes e sou grato por essa experiência e por um ter ajudado o outro. Desejo a ele toda sorte do mundo nesse desafio que é treinar o Flamengo.
Achou justo a estátua que fizeram dele?
Muito. Acho justo e merecida. O Renato é o jogador mais importante na história do clube tendo conquistado 19 títulos como jogador, sendo uma Libertadores e um Mundial, em 1983. Como treinador, dirigiu a equipe do Grêmio em 411 oportunidades, ultrapassando o Oswaldo Rolla que era o recordista com 383 jogos. O Renato merece, pois além de ser uma grande figura, tem uma história que se confunde, no bom sentido, é claro, com a rica história do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
Sua ligação com o Grêmio é muito forte, mas você jogaria no Internacional?
Lógico que minha história com o Grêmio é forte, não se apaga tão facilmente assim, pois foi onde comecei nas categorias de base e conquistei os títulos mais importantes como profissional. Mas o Internacional, apesar da grande rivalidade do Gre-Nal, é um grande clube. Eu não teria problema algum em jogar no Beira-Rio.
Pela seleção brasileira, você atuou sete vezes, e participou do vice-campeonato da Copa América de 1983, quando jogou contra a Argentina, Paraguai e na final,contra o Uruguai. Foi seu melhor momento com a camisa da seleção?
Desde os meus 17 anos eu participei da seleção. Confesso para os leitores do Vozes da Bola que foi um momento importante sim! Sem dúvidas! Mas pela importância da competição, que é a Copa América. Infelizmente, eu machuquei, não pude jogar as Eliminatórias, e mesmo assim, tudo acabou se tornando marcante.
Em 84, houve um desmanche no Grêmio e você foi um dos primeiros a sair, se transferindo para o São Paulo, onde não foi bem, e depois para o Santos. Porque você não rendeu o que poderia nesses dois clubes?
Vaidade, imaturidade e adaptação, para resumir. Mas não só a minha saída, mas como a de outros jogadores do Grêmio, em virtude de um planejamento mal feito pela diretoria da época. Houve um desmanche de uma equipe que havia conquistado os títulos mais expressivos e não era um time caro para os padrões daquele ano. Houve sim, a vaidade de diretores, e isso afetou o clube. Eu fui para São Paulo, um grande clube, mas confesso que tive problemas de adaptação, pois era muito novo na época e, além do mais, tive problemas de relacionamento com o treinador que não vale citar seu nome aqui nessa oportunidade. Mas tenho um orgulho imenso em ter jogado no Tricolor paulista. No entanto, não consegui ser o Paulo Roberto que era.
Apesar do grande lateral que foi, a concorrência pela camisa 2 da seleção brasileira era acirrada com Leandro, Josimar, Édson, Jorginho, Luís Carlos Winck, entre outros. Na sua opinião, porque você não foi aproveitado com a ‘Amarelinha’?
Um dos motivos está respondido na sua pergunta: a concorrência. Havia, naquela época, muitos jogadores de alto nível, craques mesmo, e disputar com eles a titularidade da ‘Amarelinha’ era complicado. Eu tive a oportunidade de jogar na seleção brasileira, mas machuquei em duas ocasiões que foram a Copa América de 89, em que o Sebastião Lazaroni improvisou o Mazinho de lateral-direito, e em amistosos na Europa, quando tive uma grave torção no tornozelo e fiquei no departamento médico por um bom tempo. Eu não reclamo por não ter tido uma sorte melhor na seleção e agradeço a Deus por ter jogado nela, que é o ápice na carreira de qualquer atleta profissional. Mas fui muito prejudicado por não ter mantido uma sequência na seleção devido as contusões que tive, numa época que a camisa 2 era bem representada por grandes laterais.
Como foi jogar no Vasco entre os anos de 1986 e 1989, quando você viveu um grande momento ao lado de Mauricinho, Geovani, Romário, Vivinho, Zé do Carmo, Tita, Dunga, Roberto Dinamite, Acácio, Fernando, entre outros, reencontrando seu futebol?
Um honra. Um clube que eu tenho um enorme carinho pelo que vivi ali em São Januário e pelos grandes jogadores com quem tive a oportunidade de jogar. No Cruzmaltino, conquistamos títulos, fizemos grandes clássicos contra Botafogo e Fluminense, mas contra o Flamengo, considerado até hoje o maior rival, era muito bom vencê-lo. Era um campeonato à parte! – relembrando as palavras do ex-vice de futebol e ex-presidente Eurico Miranda.
Pelo Vasco da Gama, você sagrou-se bicampeão carioca em 87 e 88, em cima do Flamengo. Como foram esses títulos em cima do rival?
Foram maravilhosos. Recordo que chegamos a ficar dez jogos sem perder. Como esquecer o bicampeonato de 87 e 88 em cima deles? Uma prova da nossa hegemonia no Rio e diante do nosso maior rival à época. Isso marcou minha história em São Januário, e até hoje, quando vou ao Rio, os torcedores me reverenciam muito pela história bonita que ajudei a construir no clube. Isso me deixa feliz e sou muito mais feliz em ter escrito meu nome na história deste clube considerado o Gigante da Colina
Mesmo fora de São Januário, você continuou ganhando títulos. Em 1990, no Botafogo, foi campeão carioca (atuava no time do meia Paulinho Criciúma, do zagueiro Mauro Galvão, do goleiro Ricardo Cruz e dos meio-campistas Carlos Alberto Santos e Carlos Alberto Dias). Como foi vestir a camisa alvinegra?
O futebol é um esporte coletivo e você não ganha ou perde sozinho. Tive a felicidade de jogar em grandes clubes e com excelentes jogadores. No Botafogo, justificando a sua pergunta, não foi diferente. Muitos jogadores de nível técnico excelente, e esse conjunto nos fez conquistar títulos importantes pelo Alvinegro, como o bicampeonato carioca em 1989/1990, que ficou marcado na história do clube. Mas tenho orgulho dessa época e saudades em ter vestido uma camisa tão maravilhosa em que o ‘seu’ Emil Pinheiro conseguiu montar um grande time.
Quem foi sua grande inspiração no futebol?
Quando eu era mais novo, eu gostava muito de imitar o Nelinho, que naturalmente, se tornou fonte de inspiração para um jovem que iniciava no mundo do futebol. Quando estava na base do Grêmio, ele veio jogar no clube e eu ficava assistindo os treinamentos dele. Certa vez, tive a oportunidade de conversar com ele e recebi muitas dicas. Nem sei se ele vai lembrar disso se ler essa entrevista, mas absorvi conselhos importante e aprendi muito nesta nossa conversa. Quando subi ao profissional, comecei a imitá-lo e quando cheguei em Belo Horizonte para jogar no Cruzeiro, acabei sendo comparado a ele. Cara, que privilégio ser comparado com meu ídolo em cada gol de falta que eu fazia. Foi muito legal. Mas o mais barato de tudo que envolve nossa história foi quando ele treinou-me no Cruzeiro por um curto período – uns dois ou três meses, se não me engano. Mas falar do Nelinho é motivo de orgulho, não só como jogador, mas como homem e grande ser humano que é.
Quem foram seus melhores treinadores?
Foram o Ênio Andrade, o Valdir Espinosa e o Jair Pereira.
Quem foi o maior lateral-direito do futebol brasileiro na sua opinião?
Nelinho, sem dúvidas, incomparável e o melhor de todos!
Qual ponta-direita era enjoado de ser marcado?
Difícil escolher um, até porque, enfrentei muitos pontas talentosos e bons de bola. Mas eu era um lateral mais ofensivo do que defensivo.
É verdade que em 1993, você chutou uma bola por cima do Mineirão, coisa que só Nelinho e o goleiro Victor, em 2015, haviam feito?
Engraçada essa pergunta. Como já falei, o Nelinho sempre foi meu ídolo e quando cheguei no Cruzeiro, houve essa comparação com ele por vários aspectos: estar no clube, vestir a camisa 2, jogar na lateral-direita, chutar forte e fazer gols. Dessa forma, era inevitável ser comparado com o Nelinho, o que sempre encarei com naturalidade. Mas teve esse fato sim, em que ele havia chutado a bola para fora do estádio do Mineirão depois de a Tede Globo propor o desafio. Chutei a bola para fora do estádio, que acabou se tornando mais uma particularidade com o meu ídolo (risos).
E sua passagem no Atlético Mineiro, como foi?
Foi uma fase excepcional que tive no Galo. Uma honra ter vestido uma camisa tão marcante na história do futebol brasileiro e o clube não conquistava um título desde 1990. Quando lá estive, afirmei que seríamos campeões e foi o que aconteceu, em 1995.
Depois Fluminense, Cerro Porteño-PAR, e Canoas, onde encerrou a carreira. Se arrepende de alguma coisa?
De forma alguma. Não me arrependo de nada e sou grato a Deus por ter sido jogador de futebol, ter jogado em nove grandes clubes do país, conquistado títulos e honrar cada camisa que vesti.
Grêmio, São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Atlético-MG e Fluminense, nesta ordem. Qual desses nove clubes você viveu o melhor momento da carreira e qual deles se arrepende em ter jogado?
Absolutamente. não me arrependo de nada que aconteceu na minha carreira e, muito pelo contrário, agradeço a Deus por ter me dado força e capacidade de jogar futebol e fazer dele minha profissão. Acho que devo muito mais ao futebol, pois joguei em grandes clubes, em alto nível e conquistei muitos títulos. Todos as equipes em que joguei foram importantes, pois em todos, ou quase todos, conquistamos algo importante. Sobre os títulos mais importantes, cada um tem a sua importância, pois cada um tem uma história diferente da outra, ou seja, todos, sem exceção, foram importantes.
Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?
Estamos mais adaptados, e esse novo momento de distanciamento social, máscara e álcool em gel, nos dá condições da gente se cuidar mais. Mas tudo isso que está acontecendo no mundo tem sido importante, e eu acho que é um propósito de Deus. O Covid-19 serviu para a gente pensar mais na família, nos amigos, ter mais amor pelas pessoas e aproveitar mais a vida. Eu sou um cara muito esperançoso e acredito que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, independente das circunstâncias. Eu tenho meu momento íntimo com Deus pela manhã e agradeço sempre por ter acordado bem, com saúde e por ter uma família maravilhosa com esposa e filhos que são tudo para mim. Agora com as vacinas, tenho certeza que tudo vai voltar ao normal.
Defina Paulo Roberto em uma única palavra?
Vencedor.