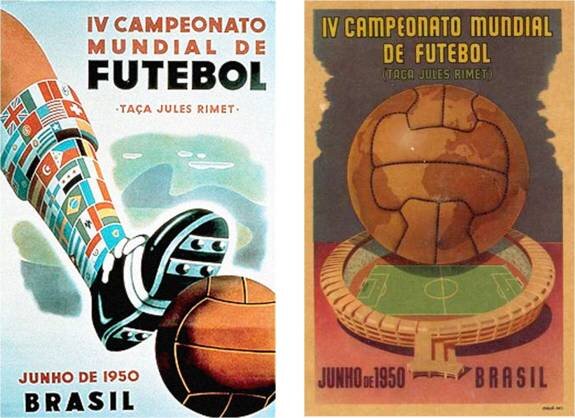por Marco Antonio Rocha
Quanto custa o bilhete de entrada para a galeria dos grandes do futebol? Se a resposta for a conquista de uma Copa do Mundo, então veremos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo barrados na porta… E o que falar de Cruyff, Puskas e uma infinidade de outros gênios que encantaram multidões com seu talento? Durante a publicação da série especial sobre os 70 anos da Copa do Mundo de 1950, alguns amigos seguidores do Museu da Pelada questionaram por que não falamos dos brasileiros que formaram aquele time dos sonhos. Seria um pesadelo momentâneo capaz de perturbar seu sono durante anos, no caso de Barbosa até a morte, o mais indefensável dos chutes?
Não fosse a virada na decisão, aquele Brasil que pulverizou marcas e triturou adversários teria entrado para a história do futebol como uma das seleções de campanha mais irretocável de todos os tempos: 4 a 0 no México; 2 a 2 com a Suíça; 2 a 0 na Iugoslávia; 7 a 1 na Suécia (numa época em que esse placar não era sinônimo de vergonha para nós); e 6 a 1 na Espanha, com direito ao Maracanã cantando em uníssono “Touradas de Madri”, de Braguinha e Alberto Ribeiro – um carnaval fora de época, espécie de catarse pós Segunda Guerra Mundial que havia cancelado as Copas de 1942 e 1946.
Coube a Ademir Marques de Menezes, craque do Vasco, o papel de artilheiro do Mundial, com nove gols em apenas seis jogos. Habilidoso e dono de um chute que beirava a perfeição, Queixada teve na Seleção a companhia de outros colegas de Expresso da Vitória, alguns deles que haviam, dois anos antes, conquistado o inédito Sul-Americano. Entre eles o mítico Barbosa, goleiro que ainda acumulou seis Cariocas e um Rio-São Paulo pelo clube. A lista de destaques brasileiros é extensa, com jogadores épicos como Jair Rosa Pinto, Chico e Zizinho.
Ex-Flamengo e São Paulo e, na época, jogador do Bangu, Zizinho atribuía aos bastidores grande parte da culpa pela derrota para o Uruguai. Tudo porque a delegação, a seis dias da final, trocou a tranquilidade da concentração no Joá pelo tumulto de São Januário.
– Era uma desconcentração, ninguém tinha tempo para nada. São Januário vivia cheio de gente. Não aguentava mais tanta bagunça. Eu quis largar aquilo na véspera da decisão! – revelou o ídolo:
– Em meses aconteceria a eleição presidencial. Entrava um político e saía outro. Era muita gente pedindo autógrafo, querendo tirar foto. Minutos antes da final, o prefeito Mendes de Moraes ainda discursou, dizendo que havia feito um estádio para nós e que exigia a vitória.
Outra passagem contada por Zizinho mostra como os jogadores, na verdade, foram vítimas, não vilões:
– Eu estava com o joelho inchado e eles nem cuidavam de mim. Depois do empate com a Suíça em São Paulo, o (técnico) Flávio Costa me disse que precisaria de mim, que eu teria de fazer um teste. Meu Deus, que teste? Mal podia andar… Puseram um remédio no meu joelho e lá fui eu. Segundo Augusto, nosso capitão, era um remédio para cavalos. Mas eu não acredito que fosse, porque um cavalo não aguentaria aquilo, não.
O ex-atacante jamais se furtou de recordar a decisão contra os uruguaios, mas preferia falar de samba, em especial da amizade com Wilson Batista, Ataulfo Alves e Walter Alfaiate. É de Alfaiate uma letra que, por linhas tortas, simboliza aquele jogo que começou na tarde de 16 de julho de 1950, mas parece não ter acabado:
“Olha aí, toda a minha gente reunida; Parece que está bem decidida e que atingiu o seu ideal; Olha aí, veja a euforia como é grande; Note como o pessoal se expande, num gesto tão humilde e leal; Cante com vontade, minha gente, porque hoje já é carnaval; Em cada bloco havia um estandarte, em cada estandarte um dizer; Simbolizando que, nesses três dias, ninguém se lembraria como é o sofrer; Após a batucada pela rua, quarta-feira a vida continua”.
Obrigado, Barbosa, Augusto e Juvenal; Bauer, Danilo e Bigode; Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico!