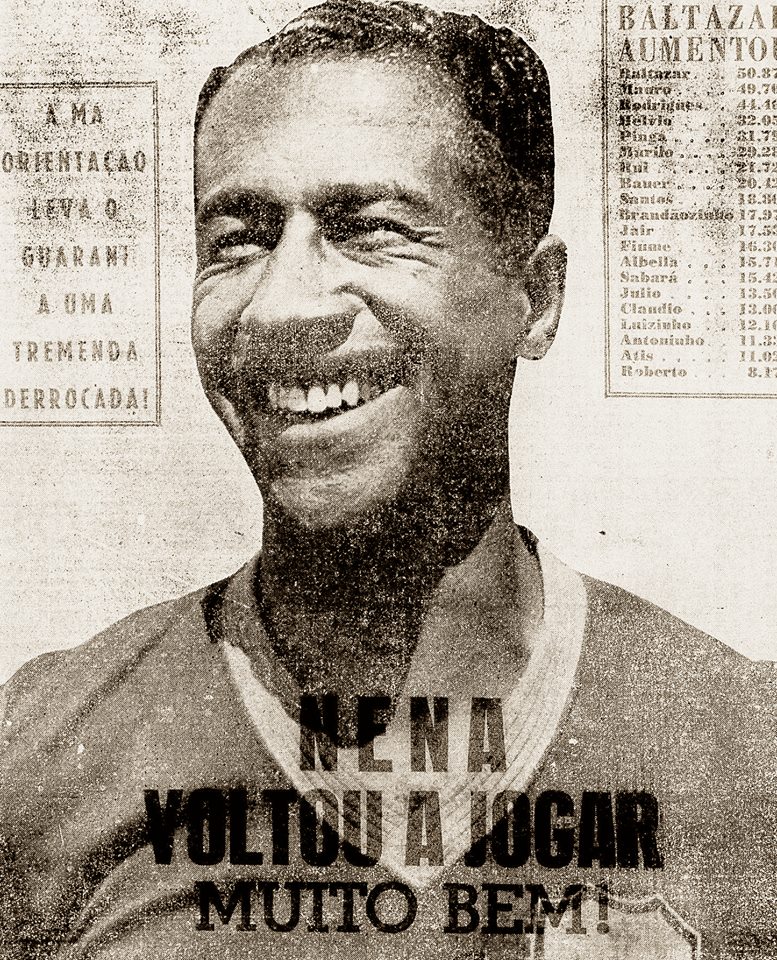por Marcelo Mendez
O ano era 1969 e o Brasil não era nem de longe, algo que poderia ser exemplo de integração.
Um país de dimensões continentais sim, mas que também não fazia o menor esforço para se conhecer, para se falar e se frequentar. Era o Brasil da ditadura militar, do chumbo do AI-5, das mortes e sangues espancados em paredes de masmorras muquiadas por todas as capitais.
Era uma época que o Brasil não fazia questão de se conhecer, em linhas gerais.
Dessa forma, dá pra dizer que o Sul do Brasil era longe demais de Rio e São Paulo. Explica-se por aí, o fato de um time enorme construir um estádio gigante, à beira do Rio Guaíba e ainda assim, não ser noticia nesses grandes centros da vez.
Pois…
Foi nesse ano, que nasceu um estádio chamado pelos seus como O Gigante da Beira Rio, de onde se formou um time que uns anos depois viria a ser o melhor time do mundo. Viemos para falar desse time hoje.
O ESQUADRÕES DO FUTEBOL BRASILEIRO vem para falar do Internacional dos anos 70. O Colorado de 1975/1979
A FORMAÇÃO
Lógico que o começo foi uma beleza.
Em 1969 com a construção de seu estádio, o Internacional quebrou uma hegemonia que era do Grêmio, interrompendo o hepta e começando a fila de títulos gaúchos que viriam a dar no octacampeonato de 1969/1976.
Consta ainda como sendo dessa época, a chegada de um moço catarinense para o time de cima, estreando por lá em 1973, de nome Falcão. As canteiras também trouxeram Batista, também surgiu Jair, Flavio, o lendário Valdomiro, o bom ponta esquerda Lula que veio do Rio, a zaga forte com Elias Figueroa e um jeito de jogar futebol extremamente moderno para a época, comandado por Rubens Minelli.
Não poderia dar errado e não deu.
Com Minelli, o Colorado deixa de ser apenas regional e vence de braçada dois Brasileiros, o de 1975 contra o Cruzeiro e o de 1976 sobre o surpreendente Corinthians. Do sul do país surgia um gigante, forte, jogando pra frente, dando shows em cima de shows.
O Internacional era uma realidade no Brasil.
PARA SER O MELHOR DO MUNDO
Em 1979 tudo era uma incógnita para o Colorado.
Há de se pensar que o Grêmio já havia quebrado a série de títulos colorados em 1977, que novas forças como Santa Cruz e Guarani se apresentavam para o Brasil e uma renovação tendo que ser feita deixou tudo em suspense no Sul.
Rubens Minelli deixa o comando técnico para Enio Andrade que passa a ter Benitez para o gol no lugar de Manga. Para a lateral, João Carlos, zaga composta por Mauro Galvão com 18 anos e Mauro Pastor. Lateral esquerda era de Claudio Mineiro e dele pra frente, pouco havia mudado; Falcão, Batista, Jair, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio.
Um timaço!
O Inter não só venceu 1979, mas com requintes de máquina, amassando todo mundo e chegando de forma invicta ao título em cima do Vasco com duas vitórias, nas decisões.
Naquele final de década as forças do futebol mundial se equivaliam e tudo estava mudando. Os Alemães e Holandeses de Bayer e Ajax davam lugar a supremacia inglesa que viria com Liverpool, Notinghan Forest e Aston Villa. Pensando nisso não é loucura dizer isso que afirmarei agora:
O Internacional de 1975/1979 era um dos maiores times do mundo.
Manga, Claudio, Marinho Perez, Figueroa e Vacarria. Batista, Falcão e Jair. Valdomiro, Dario Maravilha e Lula formam a base dessa máquina.
A eles nossa homenagem.