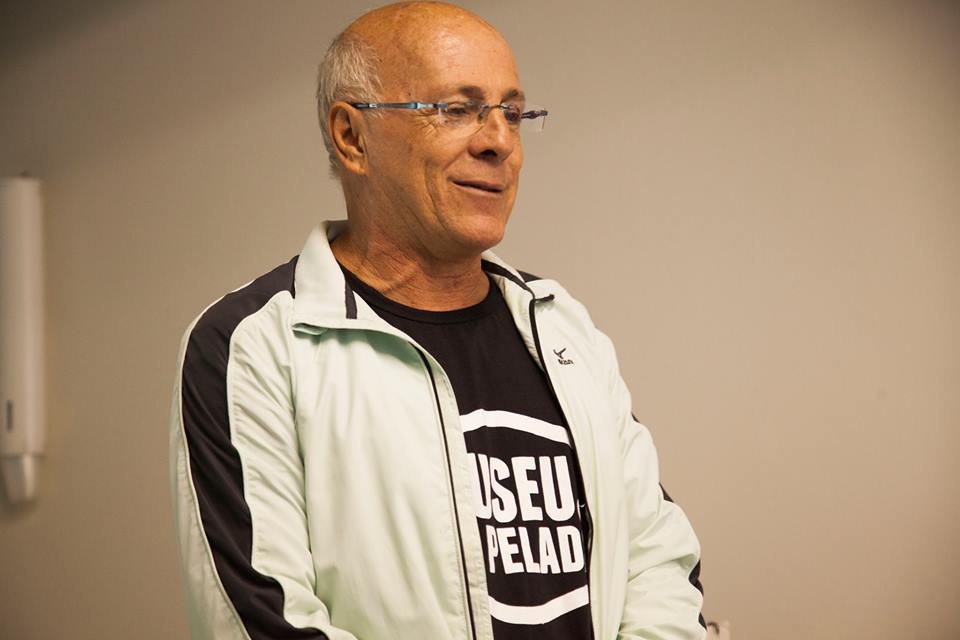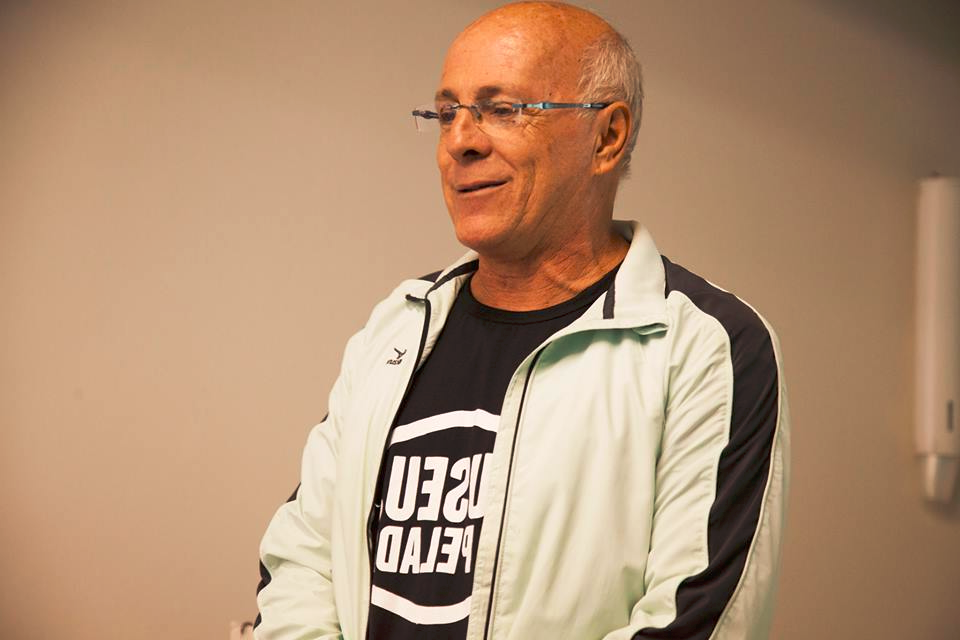por Zé Roberto Padilha
Zé Roberto Padilha
Cheguei ao Flamengo levando junto do Fluminense, em 1976, o maior lateral-direito em atividade do país, Toninho Baiano. Leovegildo da Gama Júnior, então titular da camisa 2, recebeu do nosso treinador, Carlos Froner, uma dica: ou vai se adaptar na lateral esquerda e disputar a posição com Wanderley Luxemburgo (o titular, Rodrigues Neto, tinha ido para o Fluminense no troca-troca) ou sentar no banco de reservas. Júnior aceitou o desafio e se adaptou tão bem à nova posição que chegou à seleção brasileira.
Na concentração, reparei a quantidade de saladas que seu prato continha, chamava a atenção diante de outros, como o meu, não tão politicamente saudáveis. Como todos ali que jogavam por amor à camisa, que nem tinha patrocínios, Júnior abriu mão das noitadas. Treinava de dia na Gávea e à tarde corria nas areias fofas de Copacabana. Sua renúncia e cuidados foram longe, se tornou o jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra em jogos oficiais: 865. Só quem se cuida muito conseguiria alcançar patamares que Adriano, Ronaldinho Gaúcho e os integrantes do Bonde da Stelinha nem sonharam chegar.
E é sobre este exemplo de desportista, ilustre cidadão carioca e meu amigo que dedico esta crônica. Pois na semana passada postaram no Facebook cenas de sua intimidade. Num restaurante cercado de amigos e admiradores, bebeu um pouco mais. Tinha direito, era dia de folga na Rede Globo onde nos brinda com o melhor e mais imparcial dos comentários. Todos já bebemos acima do normal e nossas mulheres nos levaram em segurança para casa. Mas entre o ídolo, sua privacidade e os seus admiradores, havia a postos no local um jogador frustrado de plantão. Com uma máquina na mão, uma inveja na cabeça, um sonho inalcançável de ter sido jogador de futebol, registrou tudo. E jogou na rede.
Até a invenção da Internet, recalcados e frustrados sofriam, afinal, em que lugar poderiam expor suas fraquezas sem serem percebidos? Daí veio a rede social a lhe estender a tela, palco e o anonimato onde poderiam postá-las, compartilhá-las com outros recalcados que passariam frustrações à frente. Não conhecemos quem gravou a cena, mas quem o fez tem o perfil daqueles que sempre se incomodaram com a luz que Júnior irradia, carregando atrás de si cidadãos carentes de ídolos e a procura de um autógrafo, uma foto, um registro seu para a história.
O recalcado da vez não deve ter passado de um jogador qualquer no Aterro do Flamengo. Não sabe onde fica Pescara, e do Estádio Sarriá, em Barcelona, nem passou por perto. Nem que fosse para sofrer junto com a gente. Sua vingança por não ser famoso e tão bom de bola acabou no exato instante em que o Flamengo, 48 horas depois, entrou em campo contra o Bahia e o nome e rosto do Júnior na bandeira, imortalizada ao lado da do Zico, foi erguida com orgulho outra vez pela torcida na Ilha do Urubu. E vai ser sempre assim. Quando uma nação tomba um monumento seu como patrimônio histórico e esportivo, melhor os frustrados de plantão recolherem suas câmeras. E retornar às selfies com que vão revelando, a cada dia, o tamanho da sua mediocridade.