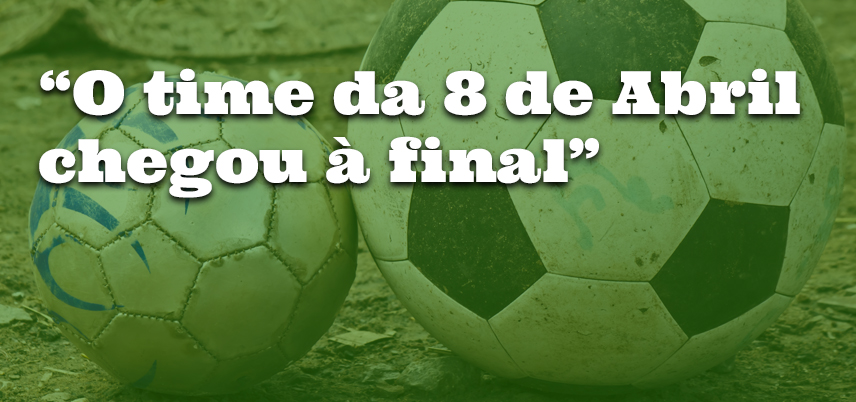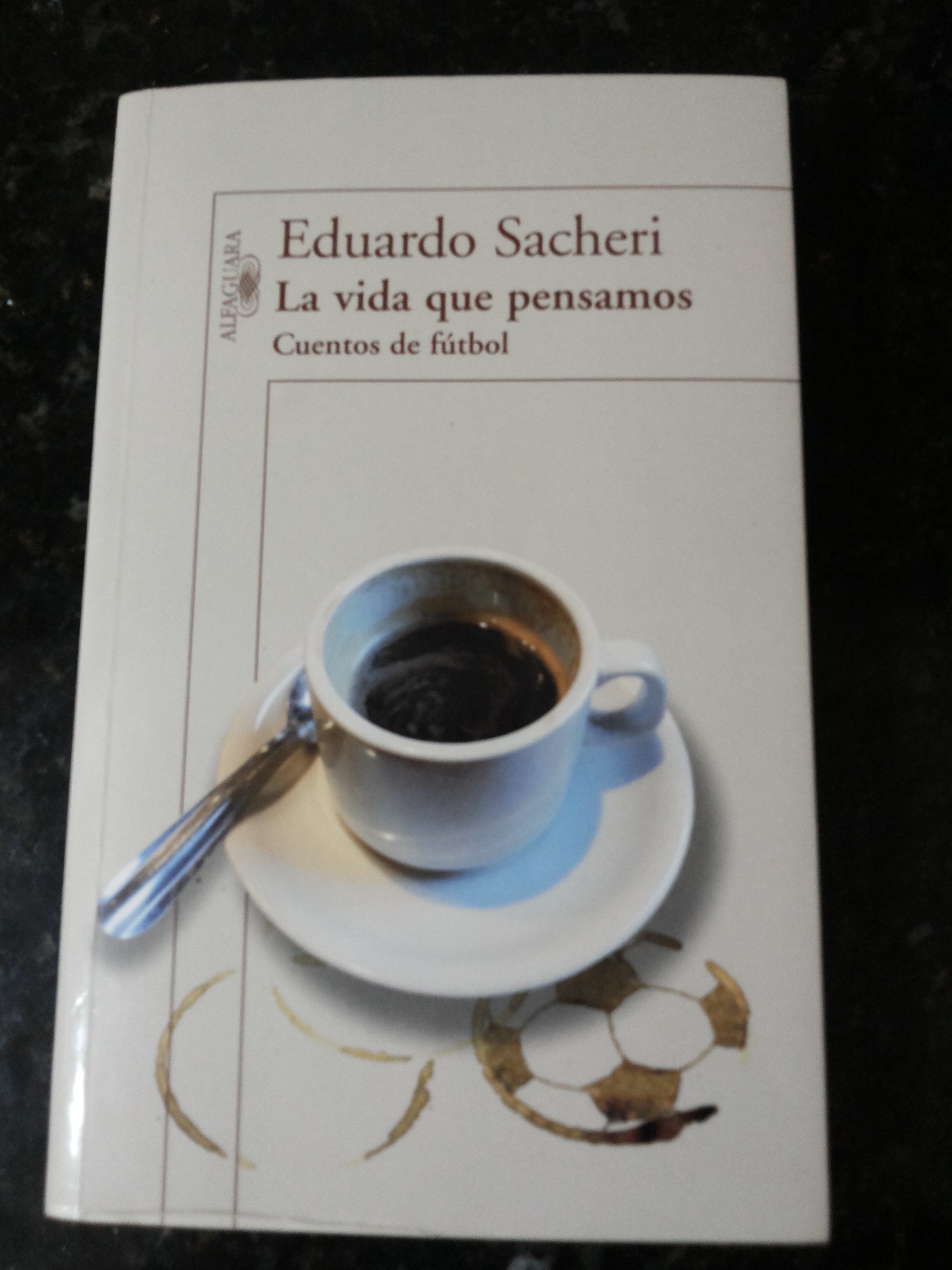por Claudio Lovato
Então ele decidiu: se continuassem a lhe chamar por aquele apelido, ele abandonaria o time.
Ele gostava muito de jogar no time – todos amigos, todos na faixa dos 15 anos, vizinhos desde que nasceram, criados na rua 8 de Abril, e o treinador era o pai do Vinícius, que havia sido profissional.
Mas aquele apelido… A coisa tinha ficado insuportável para ele.
No dia seguinte à tomada de decisão – véspera da partida que poderia levá-los pela primeira vez à final do campeonato do bairro –, ele chamou todos para uma conversa franca antes do bate-bola de fim de tarde, na praça Ary Santamaria.
– Chegou dessa história! – ele dissera ao fim do papo, e todos concordaram e assentiram com a cabeça e se comprometeram (o Lico com um sorrisinho enigmático no rosto) a nunca mais usar o apelido.
O dia da semifinal contra o time da rua Taquara era um sábado. O jogo estava marcado para as dez da manhã. A segunda semifinal, entre o pessoal da rua dos Loivos e os açougueiros da travessa Elias Ricardo seria no domingo, no mesmo horário.
O uniforme do 8 de Abril Futebol Clube era azul e laranja, e ele vestia a camisa 9. Era o artilheiro disparado – não apenas do time, mas do campeonato; fizera 12 gols nos até então dois meses e meio de competição.
Foram para o jogo e, quando chegaram, os “taquarentos” já estavam por lá. Seria uma partida duríssima.
Foi no fim do primeiro tempo que o jogo, por fim, deslocou-se do meio do campo, espaço de um interminável e caótico perde-e-ganha, para a área de ataque do 8 de Abril. A bola foi lançada por Betão, de forma totalmente involuntária, e acabou indo parar à frente dele, do 9 matador do time azul-e-laranja. Apenas ele e o goleiro. Outra chance daquelas, naquele jogo? Melhor não esperar por isso. Primeiro foi um toque com o lado interno do pé direito, para entrar em acordo com a bola, e então um leve toque para a frente, com o peito do pé esquerdo, e aí o tiro já estava engatilhado, o passaporte para a final uma semana depois, a final tão sonhada, e foi quando ouviu-se a voz esganiçada do Lico, que acompanhava a jogada mais ou menos de perto:
– Vai, Lêndea!!
O chute saiu torto, fraco, pelo lado esquerdo do gol. Um traque.
O silêncio se abateu como um véu sinistro sobre o esquadrão da 8 de Abril, enquanto uma gargalhada coletiva, a cruel trilha sonora da humilhação e do deboche, tomava conta do lado da turma da Taquara.
Ele se virou para os companheiros, tirou a camisa 9, deixou-a caída ali mesmo, perto da marca do pênalti, e saiu de campo, decidido a nunca mais vestir aquele uniforme e a nunca mais conversar com nenhum deles, a partir de agora e para sempre seus ex-amigos.
No meio de um círculo formado de forma rápida e precária pelo time, Lico era alvo de fisionomias furiosamente inquisitivas.
– Por que você fez isso??? – era o que aqueles rostos diziam.
– Eu…, eu…, eu… – tentou balbuciar, como se tivesse desaprendido todas as outras palavras do idioma.
– Ca-ca-cagou o cam-cam-peonato!! Ca-ca-gou tu-tu-do!!! – disse Adalberto, que tinha gagueira nervosa.
Foi o pai do Vinícius que convenceu o goleador a voltar a campo. Numa certa idade da vida, as decisões “para sempre” podem durar menos de dez minutos.
O time da 8 de Abril chegou à final. Ia decidir tudo contra os “Loivos”. Seria um embate duro, mas leal. Com Lico na reserva e vigiado de perto por praticamente todos os moradores da 8 de Abril – do bebê da Marialva e do Délcio, o mais novo torcedor do clube, à avó do Neco do Quiosque, que, pelo que diziam, tinha quase 100 anos e foi para o jogo portando uma inconfundível vara de marmelo.