por Nestor Mendes Jr.
O zagueiro é um dos destaques do Capítulo 3, que trata da conquista do primeiro campeonato brasileiro, em 1959/1960

Henricão — Henrique dos Santos — zagueiro e último remanescente da esquadra do Esporte Clube Bahia de 1959 — o primeiro campeão do Brasil — é um dos destaques do capítulo 3 do livro “Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil”, do jornalista Nestor Mendes Jr., lançado em dezembro do ano passado.
“Não acreditávamos no título, porque jogávamos contra o Santos de Pelé — o melhor time do mundo de todos os tempos. Não éramos melhores individualmente, mas sobrávamos em preparo físico. E união: embora brigássemos muito, em campo éramos todos unidos, com o único objetivo de vencer”, contou Henricão, o “Gigante de Ébano” que, durante dez anos, de 1957 ao começo de abril de 1967, tomou conta da zaga do Tricolor — campeão baiano seis vezes, campeão do Norte/Nordeste e primeiro campeão do Brasil.
Com 320 páginas, capa dura, no formato 28,5 x 28,5, o livro de Nestor Mendes Jr. conta a saga do Esporte Clube Bahia desde a sua fundação, em 1º de janeiro de 1931, até a temporada de 2021, quando o clube completou 91 anos de existência. “O projeto gráfico é do designer Alan Maia; a capa é de Fábio Domingues (do BBMP!), sobre belíssima foto de Ulisses Dumas. A obra está dividida em nove capítulos, abarcando a história da fundação, as 90 temporadas de 1932 a 2021, os títulos brasileiros de 1959 e 1988, os grandes rivais, os grandes jogos, a torcida – subdividido com as histórias do hino e do manto tricolor – e o último capítulo, o nono, dedicado à luta pela democracia”, explica Mendes Jr.
Segundo o autor, duas “preciosidades” são apresentadas em “Bahia, Minha Paixão”. “Pela primeira vez, o torcedor do Bahia — e o público de um modo geral — irá ver uma fotografia colorida da primeira formação do Esquadrão, em 1931. Foi um trabalho minucioso e delicado de restauração e colorização feito pelo estúdio da artista paulista Marta Rajabally — que também aplicou a mesma técnica na foto do primeiro campeão brasileiro, na decisão Bahia 3×1 Santos, no Maracanã, em 29 de março de 1960. É algo inédito e o resultado ficou extraordinário”, exulta o escritor.
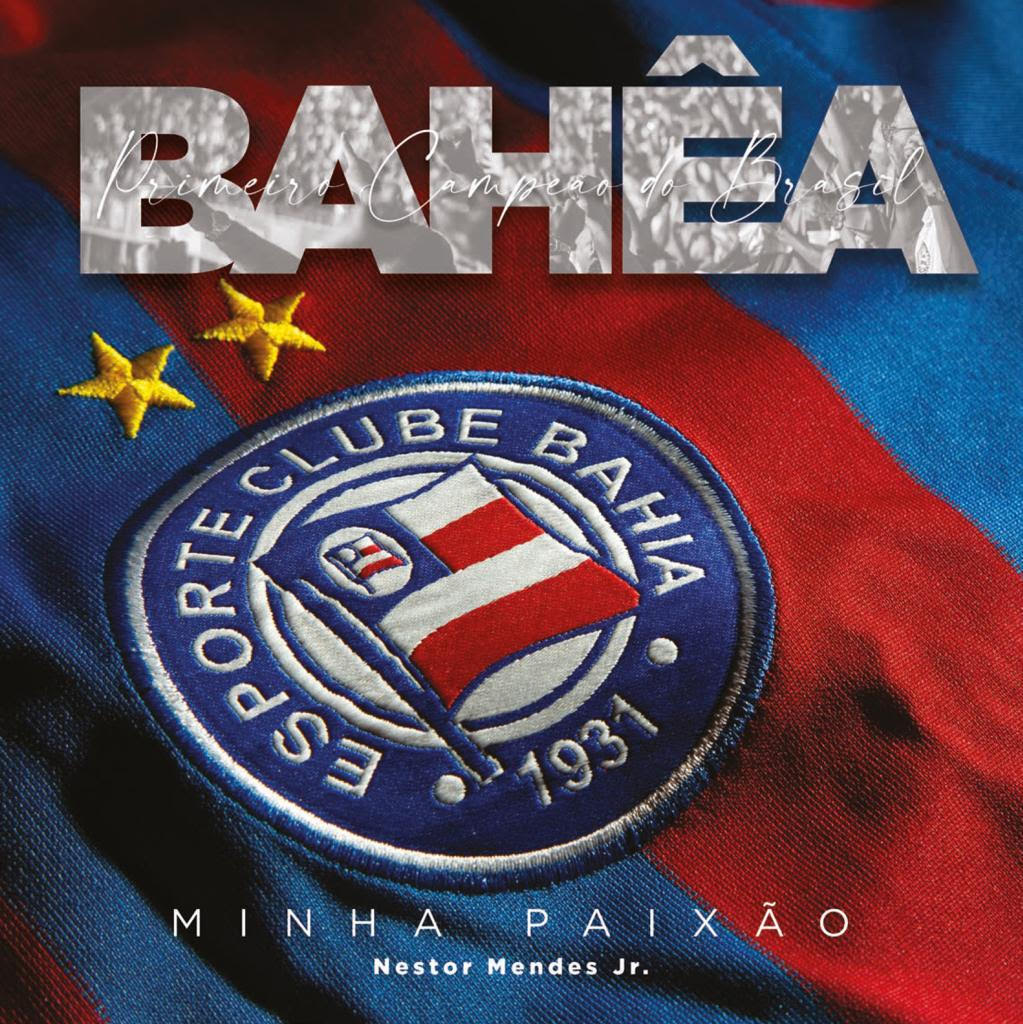
*SOBRE O AUTOR*
Apaixonado pelo Esporte Clube Bahia, Nestor Mendes Jr. nasceu em São Sebastião do Passé, Bahia, em 27 de novembro de 1962. Formado em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia, e em Direito, pela Universidade Católica do Salvador, trabalhou em diversos veículos de comunicação da Bahia, como A Tarde, TV Bahia, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, Bahia Hoje, Rádio Sociedade, Rádio Educadora e como repórter free lancer do Jornal do Brasil. Já autuou no marketing político de 18 campanhas eleitorais. É autor de “Elixir”, de 1984; “Bahia Esporte Clube da Felicidade – 70 Anos de Glórias”, de 2001; e “Nunca Mais! – 25 anos de Luta pela Liberdade no Esporte Clube Bahia”, de 2014.























