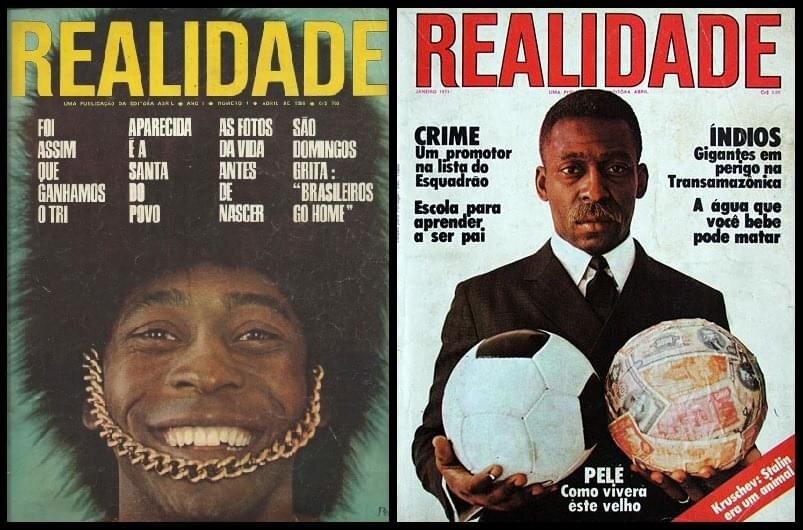por André Felipe de Lima
Espontaneidade é uma das características mais pujantes do brasileiro. Viver com o salário-mínimo que recebemos exige desenvoltura para superar os percalços diários. Brasileiro é assim, ginga e dribla como poucos. Por isso nosso futebol é o que é. Quase uma entidade acima do bem e do mal, sacralizada pelos santos peladeiros. E um deles chama-se Dirceu Lopes. Um “santo” capaz de unir cruzeirenses, atleticanos e americanos em torno de uma só oração. A do futebol mágico. “Foi ídolo dos peladeiros”, escreveu Jorge Santana, cruzeirense que rezou muitas vezes no “altar” do Mineirão e presenciou, com olhos de ver, milagres da bola que somente “São” Dirceu Lopes operaria.
Faltava pouco para canonizá-lo. Uma das façanhas mais famosas do milagreiro Dirceu aconteceu na noite de 30 de novembro de 1966. O Cruzeiro entrou em campo para o embate com o Santos pentacampeão da Taça Brasil. O “altar” Mineirão recebeu os dois clubes e seus fiéis. Os paulistas poderiam se tornar hexacampeões. E tinham tudo para consegui-lo.
Na fileira do Santos havia Pelé, Coutinho, Gilmar, Dorval, Mengálvio, Zito, Pepe… linhagem não menos santificada que a de Dirceu Lopes, que contava com outros gênios da bola ao seu lado, entre eles Tostão. Aliás, Cosme e Damião estão para o catolicismo como Dirceu Lopes e Tostão serviram à fé cruzeirense.
Fato insofismável daquele jogo — antes de o juiz apitar o seu começo —, o Santos constituía-se em algo mítico e inabalável. Bicampeão mundial, nem mesmo Milan, Benfica ou Peñarol, bichos-papões daquela década, o superaram. Mas com o Cruzeiro seria diferente. Com Dirceu Lopes, aliás, seria diferente. Ele marcou três gols. Em um deles o goleiro Gilmar esforçou-se, mas acabou abraçado à trave. O “milagre” aconteceu. Cruzeiro, dos homens e mulheres de fé, 6 a 2.
Fora dos campos Dirceu sempre demonstrou timidez, dentro deles, porém, encantava com jogadas brilhantes, que no futebol que presenciamos hoje talvez Ronaldinho Gaúcho tenha sido o último a arriscá-las. Dirceu, calado e ponderado fora do gramado, nas quatro linhas um cidadão irreverente e eloquente. Não que fizesse palhaçadas. Nada disso. Seus pés, sim, eram pândegos. Mágicos mesmo.
O Cruzeiro enfrentava o mexicano Cruz Azul, no Coliseu de Los Angeles, quando Dirceu Lopes desempatou o jogo, que estava 1 a 1, com um gol indescritível. Mais um “milagre”, portanto. Após driblar dois jogadores, ele chutou a bola sutilmente, que acabou encobrindo o arqueiro. Até aí, nada demais. Ou seja, era apenas mais um gol de placa do Dirceu, rotina para os mineiros. Mas o surreal aconteceu após a sensacional jogada. Torcedores começaram a invadir o gramado querendo a todo custo a camisa do craque. O bom senso prevaleceu e o juiz Willy Zooker encerrou a partida como medida de segurança.
A habilidade incomum de Dirceu extasiava os que verdadeiramente compreendem a fé daqueles meninos — ou já grandinhos — que disputam uma pelada em chão batido ou na rua defronte de casa.
Tostão — analogia à parte, o “São Cosme” cruzeirense — diz até hoje que Dirceu, o “Damião”, jogava como “um passarinho”. Parecia flutuar em campo, ora no ataque, ora no meio. Por essas e outras passou a ser chamado pela imprensa mineira de “Príncipe da Bola” ou “Dez de Ouros”.
O Cruzeiro jogava em São Paulo quando recebeu a visita de Garrincha, o mais elevado “milagreiro” do saguão santificado do futebol, no hotel onde os craques estavam hospedados. Dirceu, ao abrir a porta do quarto, deparou-se com a “Vossa Santidade” Mané, que disse: “Vim aqui para cumprimentar o maior jogador do mundo!”. Dirceu Lopes enfim canonizado.
Um de seus principais devotos foi o ex-presidente cruzeirense Felício Brandi. Mas o primeiro a constatar que Dirceu Lopes era sobrenatural com a bola nos pés foi Adelino Torres, que imediatamente avisou a Brandi, que o menino de Pedro Leopoldo era incomum. Brandi ordenou que o levassem ao Barro Preto para testes.
Quando Dirceu Lopes chegou ao clube, o cartola mandou Milton Lopes, treinador dos juvenis, parar o coletivo e escalar o menino que acabara de chegar do interior. Com Dirceu ainda em campo e, naturalmente, esbanjando categoria, Brandi pediu ao seu secretário, o Azevedo, que preparasse imediatamente um contrato para aquele menino extraordinário. Pronta a papelada, encaminharam-na com celeridade ao pai do menino prodígio, seu Tito, em Pedro Leopoldo.
“Quando o pai de Dirceu acabou de assinar, o pessoal do América — Biju à frente — estava chegando para levar o craque para a Alameda. Perderam a viagem, porque Dirceu Lopes acabava de entrar para a história do Cruzeiro”. Palavras do profeta cruzeirense Jorge Santana.
Dirceu Lopes estreou no Cruzeiro em 1963 contra o Paraense, de Pará de Minas, e, ao entrar no segundo tempo, marcou dois gols dos cinco que o time sapecou no modesto adversário. No ano seguinte, ergueu seu primeiro troféu pelo clube do Barro Preto: o campeonato mineiro de juvenis.
O ídolo Dirceu Lopes Mendes nasceu no dia 3 de setembro de 1946, em Pedro Leopoldo, cidade a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Ainda criança, demonstrava ser exímio driblador, mas nada de zagueiros por enquanto. Driblava os pais. Mas a causa era justa: assistir jogos do seu ídolo. Família pobre, televisão na residência dos Lopes, nem pensar. Dirceu esperava a noite chegar e os pais dormirem para pular a janela e correr até o bar onde Didi o esperava com jogadas sensacionais no Botafogo e na seleção. Diante da TV, o menino imaginava-se promovendo o mesmo encantamento que Didi exercia pela telinha.
De noite, “estudava” o Didi no bar; de dia, executava as lições nos campos de Pedro Leopoldo. Até ser descoberto por Adelino e o Cruzeiro, a primeira experiência de Dirceu Lopes na senda futebolística ocorreu no clube homônimo de sua cidade natal.
Depois da estreia magnífica nos juvenis do Cruzeiro, muito já se falava dele no Barro Preto. Dirceu rapidamente passou para o elenco profissional, estreando num clássico contra o Atlético, em 1º de dezembro de 1963. O jogo aconteceu no estádio Independência e terminou 1 a 1. Humilde, retraído e com jeitão interiorano, o garoto encaixou-se na meia cancha e conquistou a camisa dez. O resto, bem, é história. E das mais suntuosas, repleta de gols e títulos.
Dirceu Lopes, segundo colocado no ranking de artilheiros do Cruzeiro, marcou 224 gols em 601 jogos. O ídolo ajudou a enterrar a alcunha de “Cruzeiro Duro”, de time que só conquista tudo somente na base da garra, e fez prevalecer a “Academia Cruzeirense”. Foi artilheiro do campeonato mineiro de 1966, com 18 gols, e marcou tantos gols no Galo que nenhum outro jogador cruzeirense conseguiu superá-lo durante jogos do clássico na Era Mineirão. Por doze vezes, os goleiros alvinegros buscaram no fundo da rede bolas emendadas por Dirceu Lopes, um dos maiores colecionadores de títulos do futebol de Minas Gerais. Além do “milagre” da Taça Brasil de 66, conquistou um pentacampeonato [1965, 66, 67, 68 e 69] e um tetra [1972, 73, 74 e 75] mineiros. Desde 1971, a revista Placar oferece anualmente as Bolas de Ouro e a de Prata aos craques do campeonato brasileiro. Dirceu Lopes foi agraciado com três de Prata, em 1970, 71 e 73.
Tudo o que fazia pelo futebol o credenciava para a seleção brasileira. Dirceu Lopes disputou alguns amistosos e conquistou a Copa Rio Branco de 1967. Era tido como a “arma secreta” do escrete montado por João Saldanha para a Copa de 70. Como jogava sem posição fixa, Dirceu faria para João “Sem medo” o que Tostão fez para Zagallo, na Copa do Mundo no México: um trabalho de formiguinha em campo. Ou, quem sabe, a dupla “Cosme e Damião” cruzeirense poderia formar com Pelé o ataque do escrete de Zagallo. Mas isso não aconteceu, e foi, talvez, a maior frustração de Dirceu Lopes em toda a carreira.
Por pouco não ocupou o lugar de Pelé. Mas não no escrete e sim no Santos. Pelé se preparava para embarcar em uma aventura no futebol americano e precisavam de outro gênio para substituí-lo. Os cartolas pensaram em Dirceu Lopes. Nada mais óbvio. Mas o “padroeiro dos peladeiros” acabou desistindo do Santos e manteve-se fiel a sua “catedral” no Barro Preto.
Além do martírio por não ter sido convocado por Zagallo para o mundial de 70, Dirceu Lopes sofreu com os pés ímpios de zagueiros que merecem, no mínimo, o purgatório do futebol, ou seja, a eternidade num banco de reservas. Em 1972, Dirceu quebrou a perna e ficou de molho por conta de um destes facínoras que se dizem jogadores. Para o seu lugar escalaram Palhinha, que acabara de sair do juvenil. Três anos depois, outra contusão, agora no calcanhar. Permaneceu treze meses fora dos gramados. Deveria parar, mas insistiu em continuar a carreira. E sabia que não tinha condições, porque antes deste grave problema uma tesoura voadora de um tal “Divino”, jogador do Atlético de Três Corações, provocou um deslocamento ósseo no quadril que fez Dirceu Lopes dar entrada duas vezes no centro cirúrgico.
Santo forte é assim mesmo, tem fé inabalável. Entre 1975 e 76, Dirceu “pregou” seu futebol milagroso no Fluminense, mas não compreendiam muito bem sua “oração” nas Laranjeiras. E o craque voltou à Toca da Raposa. No fim da carreira, jogou pelo Uberlândia, em 1979, e pelo Democrata de Governador Valadares, em 1980 e 81.
O “dízimo” que o futebol proporcionou ao “milagreiro da bola”, Dirceu investiu em uma grife de jeans chamada Dilom [Dirceu Lopes Mendes]. Acabou regressando ao futebol e abriu escolinhas do Cruzeiro em Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Pedro Leopoldo.
Em meio às crianças, o “padroeiro dos peladeiros” ouve as preces dos cruzeirenses e garimpa no interior mineiro para cumprir missão das mais santificadas: encontrar um herdeiro digno dos milagres de Dirceu Lopes que abrilhantaram os gramados brasileiros.