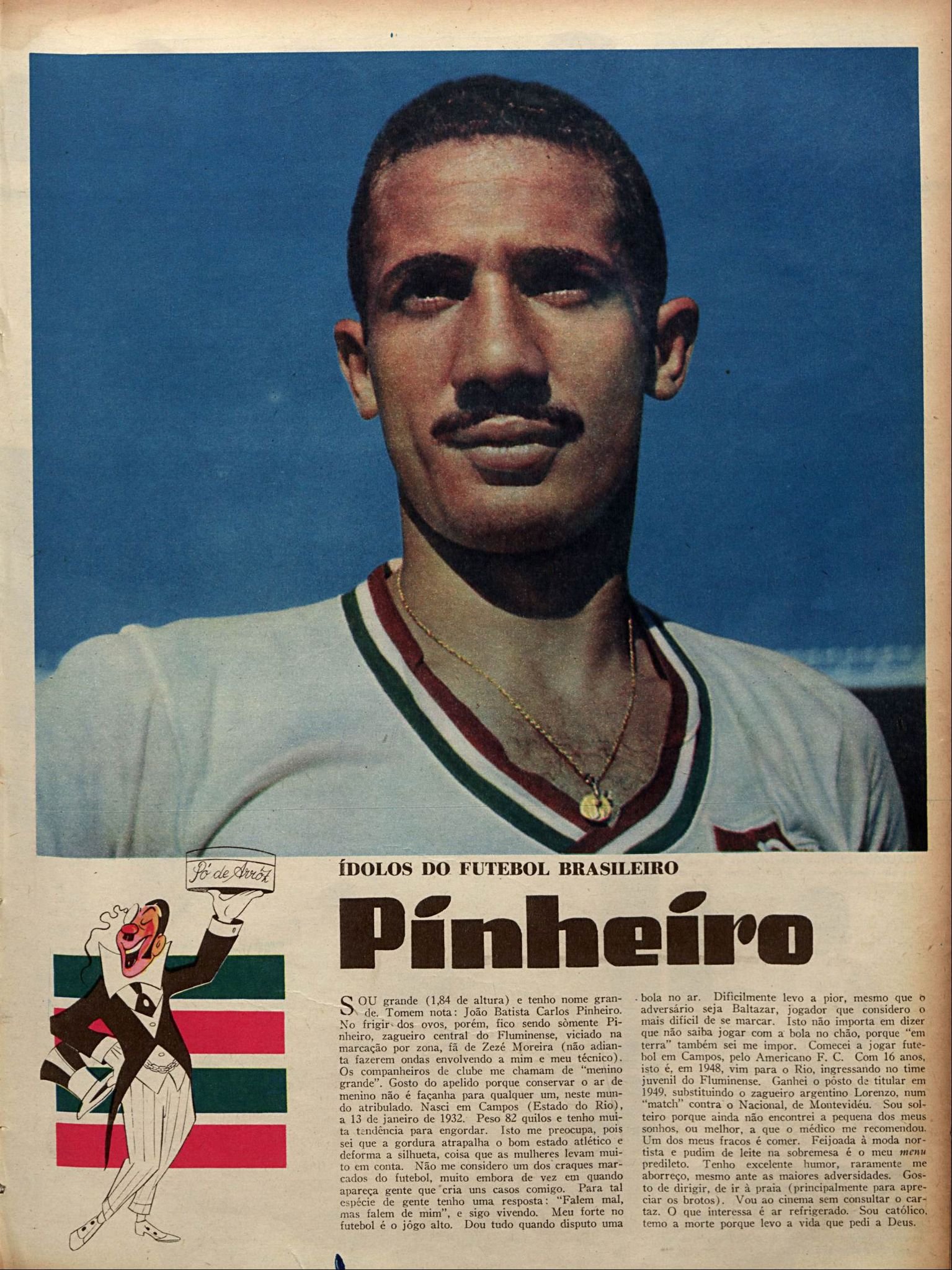O Internacional o tem como um de seus maiores jogadores na história. Não é para menos. Ao lado de Falcão e Jair (o “Príncipe Jajá”), Batista formou uma das melhores meias canchas que o Colorado teve em todos os tempos e que foi decisiva para o tri brasileiro (e invicto!) em 1979. Conheça um pouco da história do craque, que faz anos hoje.
por André Felipe de Lima
Dª. Belmira, enfermeira aposentada, estava exultante. Seu único filho, João Batista da Silva, que criou sozinha, com todo esmero, estava de volta a uma Copa do Mundo. A de 1982. Sofrera tortuosos meses vendo-o padecer por conta de uma grave contusão, ocorrida um ano antes. Muitos o achavam acabado para o futebol.
O Internacional, clube de Batista, não o queria mais. Logo o Colorado, para quem o bravo volante dera tantas alegrias e títulos de campeão. Sem o reconhecimento devido dos ingratos cartolas do Beira-Rio, Batista foi para o Grêmio. E foi vestindo a camisa tricolor que voltou à seleção brasileira. Quem não o deixou imerso na depressão foi Dª. Belmira.
Órfão de pai, Batista recebeu todo o cuidado de Dª. Belmira. Ela chegou a abandonar a profissão, no começo dos anos de 1960, para educar o filho, cujo maior prazer na infância era atazanar os gatos da vizinhança, em um bairro pobre de Canoas, a 15 km de Porto Alegre. Ela conseguiu e fez do garoto levado uma grande profissional. Um vencedor. Essa foi a trajetória que Dª. Belmira desenhou para Batista. A estrada de um campeão.
Reconhecidamente campeão e bom de bola, mas boêmio, o que desagradava muitos técnicos, com os quais conviveu ao longo da carreira. Mas Batista respondia em campo com um futebol que encantava treinadores como Rubens Minelli e Telê Santana (1931–2006), considerados “cascas-grossas” por muitos jogadores, devido à rigidez e disciplina que empregavam.
De Telê, com quem se indispôs durante a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, Batista ouvia elogios que poucos receberam no futebol da década de 1980: “Ele (Batista) conseguiu unir dois estilos: o forte, programado e persistente, com o criativo, malicioso e colorido”. Um ano antes da Copa de 82, o jornalista João Saldanha, ex-treinador do Escrete Nacional, em 1969, espinafrou Batista, aconselhando Telê a não levá-lo para o Mundial, da Espanha. “É um bêbado”, rebateu Batista.
O craque – para uns, rebelde, para outros, apenas um camarada decidido – nasceu no dia 8 de março de 1955, em Porto Alegre. O Internacional lançou-o em 1974, sob o arguto olhar do treinador Rubens Minelli, mas foi no antigo Cruzeiro da capital gaúcha que Batista deu os primeiros passos no futebol, em 1971.
Antes de se tornar um dos maiores volantes do Brasil, o Inter o experimentou na lateral direita. Mas a propalada versatilidade garantiu a Batista a vaga de titular, em 1975, no meio-campo do Inter após a transferência de Paulo César Carpegiani para o Flamengo.
Marcador implacável – Maradona que o diga durante a Copa na Espanha… – e armador primoroso, o meia foi um dos ícones, ao lado de Falcão, Jair Prates, Mário Sérgio, Dario, Valdomiro e Elias Figueroa, do Internacional das décadas de 1970 e 80.
O futebol de Batista encantava. Forte e habilidoso, era o volante dos sonhos de muitos cartolas brasileiros. E, por pouco, em 1978, não aportou no Parque São Jorge, numa transação em que o Corinthians emprestaria Zé Eduardo e Cláudio Mineiro ao Inter para ter o craque gaúcho. Os dirigentes do Colorado, sabiamente, rechaçaram a proposta do clube paulista.
Com a camisa do Inter, foi campeão brasileiro em 1975, 1976 e 1979. Foram quatro títulos gaúchos (1975–76, 1978 e 1981) e um vice-campeonato da Taça Libertadores da América (em 1980), quando o Inter foi derrotado pelo Nacional do Uruguai, do centroavante Victorino.
O declínio no time do Rio Grande do Sul começou em 1981, quando sofreu uma grave contusão, após partida contra o Sport Club do Recife, realizada no dia 5 de abril. Merica foi o seu algoz, quebrou-lhe a perna, embora Batista tenha dito na época que o volante do time pernambucano não tenha sido desleal, o que os cartolas gaúchos discordaram.
Os mesmo dirigentes, curiosamente, segregaram Batista, que estava parado por mais de seis meses. O contrato não foi renovado e Batista se revoltou com o desprezo dos cartolas. “Alguns dirigentes só valorizam o atleta enquanto ele está jogando. Quando se machuca, passa a ser esquecido e tem pouco reconhecimento. Isso é injustiça.”
Antes de se machucar, Batista foi sondado pela Internazionale de Milão, que pagaria a fortuna de um milhão de dólares para tê-lo. Os dirigentes do Inter, sobretudo o presidente José Asmuz, esnobaram a proposta.
Vingança ou não, com o passe disponível na Federação Gaúcha de Futebol, Batista arrumou as malas e embarcou para o Estádio Olímpico, do arquirrival Grêmio que, convenhamos, teve no recém-empossado presidente do clube, Fábio Koff, um habilidoso estrategista de marketing.
Mas propaganda não ganha jogo e tampouco títulos. “Depois que estava tudo acertado com o Grêmio, um conselheiro do Inter, contrário à transação, me ofereceu o dobro para que eu não fosse para o rival, e sim jogar em qualquer outro clube, menos o Grêmio”. Koff desembolsou 163 milhões de cruzeiros. Um dos mais altos negócios do futebol brasileiro na época. Batista queria permanecer no Inter, mas dizia, publicamente, que a diretoria do Colorado o tratava com indiferença. “Foi uma barra pesadíssima. E não é fácil ficar tanto tempo sem receber salários. Sabe de uma coisa? A grana estava acabando.”
Tortuosa troca de camisa – E a barra foi mesmo pesada. Com Asmuz insuflando a torcida, Batista chegou a ser ameaçado de morte. Dª.
Belmira, a mãe superprotetora, não deixou o filho fraquejar. Impetuosa, peitou a diretoria do Inter e até xingou um cartola do clube, quando ouviu deste que Batista estava “liquidado, morto e sepultado”, caso fosse para o Grêmio. Ela ficou vigilante ao lado do filho para que não cedesse às ameaças do Inter e não aceitasse a proposta do São Paulo, que tentava seduzi-lo com um cheque em branco. “Meu time não é o Grêmio, nem o Inter, é o João Batista. Para onde ele for, vou junto. Me preocupo muito com ele, sim, e sofro bastante com seus problemas. Afinal, se eu não cuidar bem dele, quem vai cuidar?”
O volante foi titular do Grêmio, vice-campeão brasileiro em 1982, diante do Flamengo de Zico. De qualquer forma, foi com aquela derrota para o rubro-negro carioca, por 1 a 0, com um gol de Nunes, que o Grêmio iniciou a sua gloriosa jornada rumo à Tóquio, onde se consagraria campeão do mundo em 1983.
Mas foi com suas atuações no Grêmio que Batista deu a volta por cima e começou a pleitear regressar à Seleção brasileira. “Quem fizer qualquer lista para a Espanha, não esqueça de mim, porque eu sou de briga e vou estar lá”, disse ele, novembro de 1981, quando ainda se recuperava da grave contusão, tratando-se na Escola Superior de Educação Física do Exército, no bairro das Urca, no Rio de Janeiro.
O vaticínio de Batista foi preciso. Ele foi convocado por Telê Santana para a Copa do Mundo de 1982, contrariando muitos desafetos, que o achavam acabado para o futebol. Era a sua segunda Copa. Havia sido convocado em 1978, por Cláudio Coutinho, para o torneio na Argentina.
Após o fracasso da seleção, no Mundial de 82, e a perda do campeonato gaúcho para o Inter, começou a ruir o casamento com o Grêmio. Logo após o Gre-Nal decisivo de 82, inconformados gremistas o abordaram em seu Alfa-Romeo preto e quase o agrediram. Novamente Batista se defrontava com uma oposição ferrenha. “Se eu conseguisse ganhar um pouco menos noutra profissão, largaria o futebol, e nem me importaria de ser um cara obscuro”.
A imprensa pegava no seu pé. Chamavam-no de mascarado e vedete. Irritado, não quis mais falar com os jornalistas. Diante de tantas críticas, dizia que desejava sumir por um ano. Era um craque incompreendido. Suas virtudes, aos olhos da imprensa e da torcida, ficaram em segundo plano.
Concluída sua passagem sem títulos no tricolor dos pampas, Batista seguiu, no início de 1983, por indicação do treinador Rubens Minelli, para o Palmeiras, que pagou 280 milhões de cruzeiros pelo seu passe. Mas o que ninguém esperava é que o jogador ficaria apenas cinco meses no Alviverde, período em que disputou apenas 14 jogos, com seis vitórias e sete empates, marcando dois gols.
O passe do jogador foi adquirido pelo Grupo de Apoio ao Presidente (GAP), formado por poderosos empresários palmeirenses, liderados por Márcio Papa. A turma endinheirada pagou 200 mil dólares ao Grêmio, manteve Batista, por empréstimo de seis meses, no Palmeiras.
A estreia foi em um jogo realizado em um sábado à noite contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Exatos 47 mil 702 palmeirenses foram ao Morumbi para ver uma goleada de 4 a 0.
Em junho, a Lazio viu-o durante jogos da Seleção na Europa e pagou um milhão de dólares para tê-lo com a camisa azul celeste do clube romano. A expectativa da crônica esportiva italiana era de que Batista chegasse ao mesmo nível de Falcão, o líder da arquirrival Roma. E a de Batista, claro, que a Lazio fosse tão forte como a Roma, ambos sob um nível de rivalidade com a qual se acostumou no Rio Grande do Sul, entre Inter e Grêmio.
Por conta da fragilidade do time da Lazio, a estada no futebol italiano foi difícil. Batista estava acostumado com títulos, a maioria deles com o Inter, clube do qual, apesar da despedida pouco amigável, tornou-se ídolo histórico.
Na Itália, nada de flores. Chegara a um clube que acabara de retornar à primeira divisão italiana e que, já na temporada seguinte, estava ameaçado de novo rebaixamento. Além deste incômodo, também o importunava na Itália a fama de indisciplinado e notívago – um deleite para os paparazzi e jornais sensacionalistas, que insinuavam casos com modelos locais.
Mas o craque deu a volta por cima em poucos meses. E até a braçadeira de capitão conquistou. O bastante para que renovassem seu contrato e permanecesse por mais dois anos na Lazio. As contusões insistiam, contudo, em atrapalhá-lo. Culpa de uma suposta vida desregrada e de pouca preparação física? Para agravar sua situação, o time italiano não engrenava no campeonato nacional.
O time acabou novamente rebaixado, em junho de 1985. Em função disso, Batista recebeu um indesejável prêmio: o de pior jogador brasileiro da temporada. As incômodas críticas da imprensa italiana desgastaram Batista, que quase deixou a Itália. A Unione Sportiva Avellino acreditou nele. Em outubro de 1985, meses depois do vexatório rebaixamento da Lazio, Batista teve o passe emprestado ao time da comuna sulista italiana, que se encontrava na primeira divisão. Ficou apenas uma temporada. Em julho de 1986, foi devolvido à Lazio. Permaneceu inativo durante alguns meses, pois o clube italiano não o queria mais, mas reteve seu passe. O jogador desejava voltar ao Brasil, especialmente para Porto Alegre, onde mantinha uma invejável mansão.
Nenhum clube esboçou esforço para contratá-lo. Batista ficou praticamente todo o ano de 1987 longe do futebol. Somente em outubro daquele ano, quando, enfim, a Lazio concedeu-lhe o passe-livre, surgiu uma luz no fim do túnel. O ex-jogador Marinho Peres, que treinava o Clube de Futebol Os Belenenses, de Portugal, telefonou para o amigo Baidek, que se preparava para trocar o Grêmio pelo futebol português, e este indicou Batista para o técnico.
E Batista foi mesmo para o Belenenses. Ficou por lá durante uma temporada e retornou ao Brasil para jogar pelo catarinense Avaí. Participou de apenas duas partidas, concluindo ser hora de parar. E, assim, em 1989, um dos maiores volantes do futebol brasileiro pendurou as chuteiras.
Pela seleção brasileira, Batista teve uma performance satisfatória. Estreou no dia 5 de abril de 1978, em Hamburgo, na vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, após substituir Rivellino durante o segundo tempo de jogo. Conquistou a confiança do treinador Cláudio (Pêcego de Moraes) Coutinho (1939–1981) e foi convocado em maio para a Copa do Mundo na Argentina, sendo titular da equipe durante toda a competição. Dali em diante fez parte de todas as convocações até o Mundialito, em janeiro de 1981, no Uruguai. Durante o jogo contra a Argentina, o zagueiro adversário Daniel Passarela o atingiu com violência. Recuperou-se rapidamente, mas, em abril, sofreu novo revés: a entrada de Merica, que o afastou do futebol durante o resto do ano.
Em 1982, foi à Copa na Espanha, mas ficou praticamente na reserva de Toninho Cerezo. Inconformado com a reserva, iniciou pela imprensa um bate-boca com o técnico Telê Santana. Antes, porém, fez uma grande partida contra a Argentina (3 a 1 para o Brasil), sem deixar Maradona respirar em campo. Mas a imaturidade do craque argentino, que na época não tinha mais de 21 anos, prevaleceu. Bastou uma entrada violenta de Maradona em Batista, e o jogador estava fora daquele que seria um dos mais trágicos jogos do Brasil em Copas do Mundo: contra a Itália, no estádio Sarriá.
A rusga com Telê era intensa: “Tenho brios e razões para não deixar barato a injustiça que cometeram comigo naquela Copa de 1982. Foi a minha grande chance e eu tinha perspectivas otimistas quanto à sorte do Brasil. Em 1986, estarei com 32 anos e praticamente em fim de carreira, talvez até radicado no futebol europeu.”
Batista até retornou à seleção, pelas mãos de Carlos Alberto Parreira, em 1983, mas nunca mais sentiria prazer de participar de uma Copa do Mundo.
Quando encerrou a carreira, em 1988, decidiu afastar-se cinco anos do futebol. Nesse período, casou com Mayone, com quem teve duas filhas. A família passou a ser sua inabalável prioridade. A renda, durante os cinco anos incógnito, vinha da administração dos imóveis que mantém em Porto Alegre, onde vive com a família. Deflagrou uma carreira de técnico (comandou os juvenis do Inter, em 1994), mas desistiu dela, ainda no começo, para assumir uma nova faceta profissional: a de comentarista esportivo, em um canal de TV a cabo.
Batista foi singular. Ídolo incontestável, independente acentuada fama de rebelde. (José Luiz) Carbone, ídolo colorado, volante de estirpe, que se preparava para abandonar a carreira, viu aquele garoto magrinho, jogando uma barbaridade no time infanto-juvenil do Inter: “Está ali um dos jogadores de maior futuro deste clube”. Ele acertou em cheio. O menino Batista, líder do Inter, campeão da Taça São Paulo de Juniores, de 1974, cresceria vigoroso. Craque de bola. Ídolo do Inter.