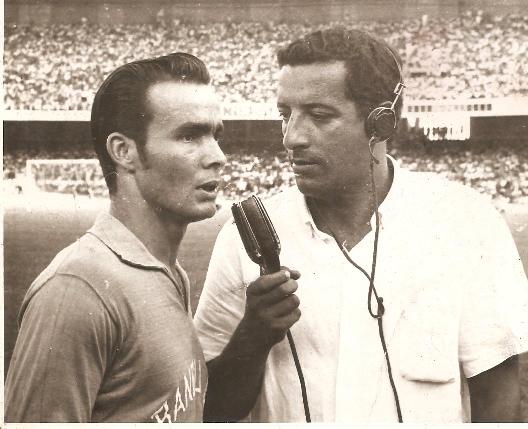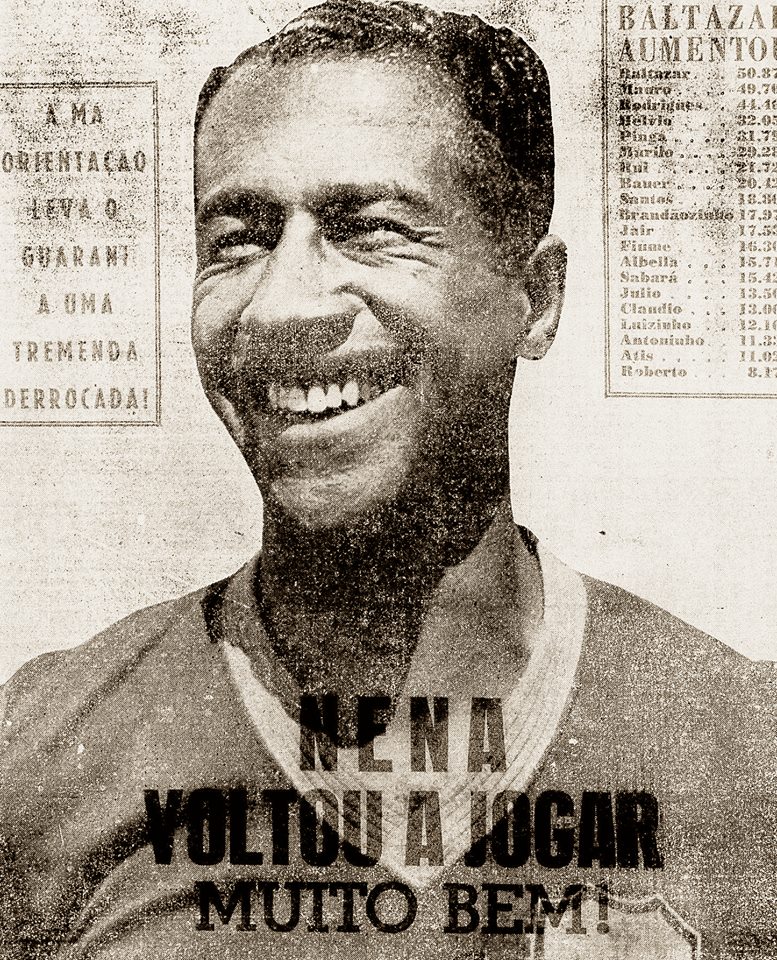por André Felipe de Lima
“Olhe, tenho cinco filhos. Tive os três primeiros aos 23 anos. Não os vi crescer; estava focado no futebol. Negligenciei totalmente meus deveres como pai. Agora, recebi o presente de mais dois filhos. Se negligenciá-los, farei tudo errado novamente”. Confessar o erro é o começo para a transformação do amor. Franz Beckenbauer, o “Kaiser”, o maior jogador de futebol da Alemanha em todos os tempos e um dos “deuses” da história do futebol mundial, teve uma carreira irretocável dentro dos gramados. Dedicou-se ao extremo. Pagou um preço alto por isso: a distância da família. A confissão, feita em longa entrevista concedida em 2006, aos repórteres Jürgen Leinemann e Alfred Weinzierl, da Der Spiegel, sintetiza a importância de Beckenbauer como ídolo e figura pública para os alemães. Um camarada sincero, que não escamoteia.
Quando garoto torcia fervorosamente pelo TSV 1860, de Munique, rival do Bayern. Ele e o amigo Sepp Maier gostavam de jogar tênis, mas um dia Beckenbauer, durante uma pelada, recomendou ao Maier que ficasse no arco. Pintava ali o magistral goleiro do futuro, que se tornaria o maior goleiro da história do Bayern.
Beckenbauer realizara o sonho de todo menino: jogar pelo time do coração. Conseguira ingressar nos times infantis do TSV. Mas durante uma pelada ele saiu no tapa com meninos com quem jogava no clube. Acabou o amor. Torcer pelo TSV era passado. A desenvoltura do menino era, contudo, tão eloquente, que o rival do TSV acabou pescando-o para suas fileiras de craques, que começavam a escrever uma das páginas mais significativas do futebol germânico. Enfim, Beckenbauer iniciava sua trajetória no Bayern em 1965, como líbero, posição que o tornou célebre e a principal referência histórica. “Gostei de assumir um papel no flanco de trás. Eu era capaz de jogar com total liberdade; podia me apoiar em jogadores como (Uwe) Seeler, Willi Schulz e Karl-Heinz Schnellinger. Aqueles eram caras de verdade. Eles foram bem sucedidos. Atualmente, em quem um jovem jogador pode se apoiar? Ele vai cair!”.
Beckenbauer está certo. Um ídolo, para que exista, necessita da história anterior de outros ídolos. É como se os craques verdadeiros herdassem de geração a geração a chama do ídolo. No futebol brasileiro estamos perdendo o contato com a história dos ídolos do passado, dos próprios grandes clubes. Como frisou Beckenbauer, um jovem craque da atualidade “cairá”, ficará perdido sem a chama que deveria herdar de outro ídolo.
Mas hoje é o dia de Beckenbauer, que nasceu em Munique, no dia 11 de setembro 1945. Brotou daquela Alemanha dividida e dilacerada o maior ídolo do futebol que os germânicos reverenciariam nas décadas seguintes. O garoto cresceu no bairro de Giesing, como escreveu Torsten Körner, biógrafo do Kaiser, o campo de futebol era o “viveiro” de Beckenbauer, que adorava jogar peladas nas ruas antes de ingressar Bayern. Onde havia uma bola de futebol, lá estava o garoto. Jogou no time da escola e até mesmo no da igreja. Peladeiro de raiz e fominha, diríamos por aqui. O garoto Beckenbauer não ficava de fora das peladas que rolassem no velho Giesing, que por ironia é a casa do TSV.
Mas o Beckenbauer era tão bom de bola que, para entrar em campo com o time profissional do Bayern, teve de obter uma autorização especial da Federação Alemã de Futebol. Isso por volta de 1964/65, quando o Bayern retornava à primeira divisão do futebol alemão, a Bundesliga.
O treinador Zlatko Čajkovski foi que começou a moldá-lo para o futebol. Recomendava que o magricelo ganhasse mais peso. Tinha de comer mais. Mulher, cigarro e cerveja, nem pensar, como descreveu Körner. E deu certo, Em 1965 o garoto já estava escalado na seleção nacional, que se preparava para a Copa do Mundo que seria realizada no ano seguinte, na Inglaterra, e foi naquele Mundial que o planeta curvou-se ao genial garoto alemão, que não conquistou a Copa, mas mostrou que a escola de futebol da Alemanha não parou no título mundial de 1954. Começou a Copa de 66 no meio de campo e anos mais tarde o treinador Helmut Schön perceberia em Beckenbauer uma indiscutível vocação líbero. De 1966 em diante, era inimaginável um escrete germânico sem o Kaiser. Inimaginável também conferir uma escalação do Bayern sem ele. Clube do qual é o eterno capitão e que defendeu com brio incomum 424 vezes, assinalando 44 gols. Foi campeão da Bundesliga em 1969, 1972, 1973 e 1974; da Liga dos Campeões da Europa em 1973/74, 1974/75 e 1975/76 e Mundial Interclubes em 1976.
A primeira metade da década de 1970 foi mágica para o Kaiser. Ganhava tudo com o Bayern, e com a seleção alemã não foi diferente. Na Copa do Mundo de 1970, no México, impressionou o mundo ao permanecer em campo na semifinal contra a Itália, mesmo com a clavícula fraturada. Ídolo, herói… mito. Beckenbauer foi um jogador extraordinário.
A recompensa viria na Copa seguinte, com a Alemanha desbancando a poderosa Holanda, de Cruyff. Inesquecível vê-lo erguendo a nova Copa do Mundo, que substituíra a finada Jules Rimet, roubada e derretida no Brasil. Em 1977, após conquistar o Mundial Interclubes com o Bayern, Beckenbauer partira para uma aventura arriscada: fazer o americano gostar de futebol. E lá foi ele jogar ao lado do Pelé e do Carlos Alberto Torres, de quem se tornou amigo inseparável, no New York Cosmos. Foi campeão americano em 1977, 1978 e 1980.
O período nos Estados Unidos foi o emblema do distanciamento do Kaiser de sua amada seleção alemã. Poderia perfeitamente ir à Copa de 1978, na Argentina, mas, inexplicavelmente, a Federação Alemã de Futebol impediu que jogadores que atuassem fora do país fossem convocados. Mas por pouco essa regra estapafúrdica não foi pelos ares. Semanas antes do embarque do escrete para Buenos Aires, o treinador Helmut Schön ligou para Beckenbauer, que atendeu ao telefone às quatro horas da matina, em Los Angeles. “Ele perguntou se havia uma chance de me recuperar. Mas nenhum funcionário de alto escalão da DFB (Federação Alemã) ligou para pedir ao Cosmos que me liberasse. Enviaram o secretário-geral da associação de futebol americano, que obviamente não passou pelo porteiro (da sede da DFB). Então eu disse: ‘Não, vocês mostraram que não estão realmente interessados em minha participação (na Copa)”. O Kaiser só voltaria a brilhar com a seleção alemã em 1990, como treinador da Alemanha tricampeã mundial. Não falta mais nada ao maior dos maiores do futebol alemão. Pena ter sido o craque mencionado em um rumoroso caso de corrupção durante a escolha da Alemanha como sede da Copa do Mundo de 2006. Beckenbauer, segundo a Der Spiegel, teria recebido mais de 5 milhões de euros como chefe do comitê de organização da Copa, sobre os quais não pagou impostos. O Kaiser nega até hoje as acusações, e diz que a quantia recebida originou-se de publicidade e está devidamente declarada em impostos. Logo após a Copa de 2006, a revista Stern perguntou aos alemães se Beckenbauer mereceria manter o honroso apelido de Kaiser. Mais da metade dos entrevistados responderam com um rotundo “não”. Mas 35% votaram a favor da manutenção do Kaiser no “trono” do futebol alemão.
Pena que a sinceridade que sempre marcou a carreira de Beckenbauer tenha sido manchada por esse episódio. O povo alemão, em geral, não perdoa escorregões dessa natureza. Mas o Kaiser, apesar do imbróglio da Copa de 2006, é um ídolo. Como na Grécia Antiga, os deuses também cometeram deslizes, e assim caminha humanidade. Para o bem ou para o mal.