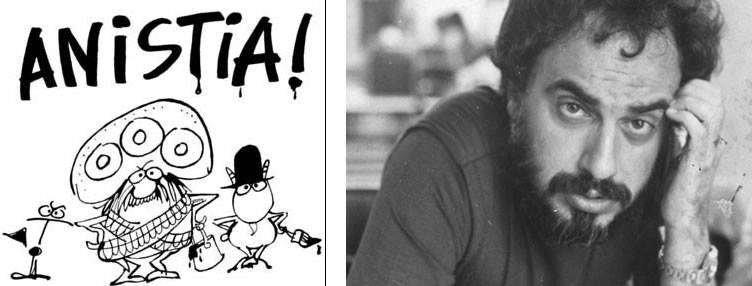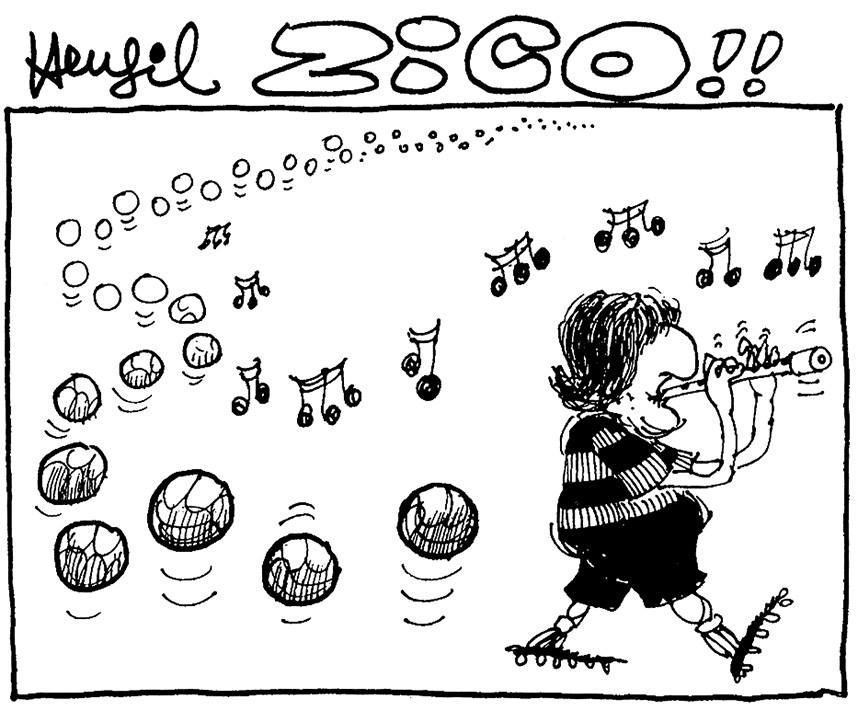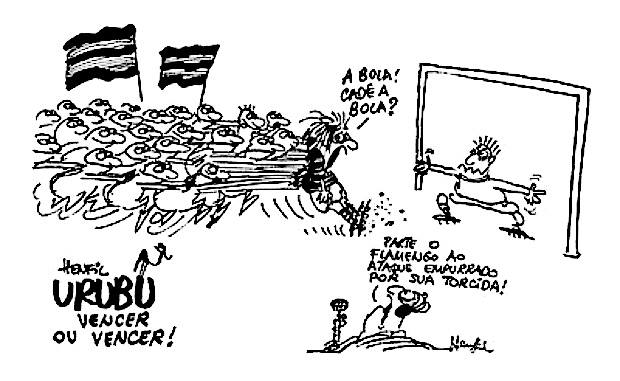por André Felipe de Lima
Luiz Carlos Tavares Franco ficou conhecido como “Caio”. Foi centroavante e ponta-direita. Atuando nas duas posições tornou-se ídolo do Grêmio e do maranhense Moto Club. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de março de 1955. Foi criado no bairro de Madureira, no subúrbio carioca.
O pai de Caio, Valter Franco, era fotógrafo e deu um duro danado para criar os cinco filhos. Apesar das dificuldades, Caio, que tinha pinta de craque desde pequeno, ingressou no infantil do Brasil Novo, um time amador de Madureira do qual Valter era sócio. Um dia, o time da categoria “dente de leite” do Botafogo entrou em campo para enfrentar o Brasil Novo. A atuação de Caio impressionou Joel e Joca, os treinadores do alvinegro, que não perderam tempo, levando o garoto bom de bola para treinar no Botafogo. Valter não se opôs. Imediatamente aceitou o convite feito ao filho, afinal torcia ardorosamente pelo Botafogo.
Diariamente, Caio embarcava na estação de trem de Madureira até a Central do Brasil. Dali, para o campo do Botafogo, em General Severiano, na zona sul. Uma cotidiana “viagem” longa e cansativa, mas necessária para a evolução do Caio. Dos 11 aos 17 anos, esta foi a rotina do garoto. De Madureira a Botafogo, buscando um lugar ao sol.
O pai esforçava-se ao máximo para não deixar faltar nada aos filhos. Valter fez questão de que Caio estudasse em um bom colégio. Não abriu mão da educação. Se jogava no Botafogo, tinha de estudar. Por isso o matriculou no Colégio Piedade, vinculado à antiga Universidade Gama Filho, no bairro Piedade, bem próximo a Madureira.
Com boas atuações no time juvenil, jogando sempre como ponta direita, logo o escalaram entre os profissionais, em um time de “cobras”, craques da melhor estirpe. No dia 23 de março de 1975, Caio disputou seu primeiro jogo oficial, no Maracanã, contra o América, mas o Botafogo perdeu de 1 a 0, em jogo válido pelo primeiro turno do campeonato carioca. Foi a quarta derrota consecutiva do Botafogo para o América em campeonatos cariocas.
Semanas após o jogo contra o América, Caio se desentendeu com Neca, o técnico do time juvenil. Fim da linha no Botafogo e o sonho de defender o Madureira, time do seu bairro, concretizado, para onde Caio seguiu após ser dispensado pelo alvinegro.
A estreia no Madureira foi coincidentemente contra o Botafogo, que venceu o jogo por 3 a 0. “Eu morava perto do estádio. Ia a pé para os treinos, na saída ficava conversando com a vizinhança. E me sentia em casa. Jogadores e torcida eram como uma família”. Mas, embora fosse destaque do time, o clube o surpreendeu com o passe livre. “Não entendi. Peguei aquele papel e saí do clube chorando, fui correr mundo. Mas aqueles dois anos nunca mais esquecerei.”
Em maio de 1977, Caio aceitou o convite do Coronel Santana, que treinara o Maranhão Atlético Clube e que o conhecera no Rio, para jogar no futebol maranhense. Começara, portanto, sua trajetória no Moto Club, e a estreia não poderia ser mais apropriada… contra o rival Sampaio Corrêa, na decisão do terceiro turno do campeonato estadual. Embora tenha jogado bem, Caio não conseguiu evitar a derrota do Moto Club. Nascera ali, naquele jogo, uma relação de amor com a torcida rubro-negra, mas também, ao longo do tempo, a fama de “turista” porque vivia “fugindo” de São Luís para visitar a noiva, que morava no Rio de Janeiro. Uma situação que provocou uma indisposição com a diretoria do clube que acabou emprestando seu passe, no começo de 1978, ao Paysandu, que se reforçava para disputar a Taça de Ouro, o campeonato nacional. Mas o clube acabou eliminado logo no começo da competição e Caio regressou ao Moto Club, onde permaneceu até junho do ano seguinte.
No “Papão”, como o Moto Club é conhecido no Maranhão, Caio descobriu-se mais eficiente como centroavante do que como ponteiro. Foi o treinador Marçal quem percebeu o goleador nato em Caio e passou a escalá-lo no comando do ataque. Com Caio na frente, o Moto foi campeão estadual em 1977.
Caio construiu fama de craque no Maranhão. Era justo que ousasse voos mais altos. No começo do segundo semestre de 1979, o técnico da Portuguesa de Desportos, João Avelino, passeou em São Luís a procura de valores para a Lusa. Viu Caio jogar e se impressionou. Seria ele o novo atacante da Portuguesa. Não deu outra. Caio marcou 19 gols no campeonato paulista. Os anos se passaram e Caio tornou-se ídolo da torcida da Lusa.
Em janeiro de 1983, Caio voltou das férias que passou em São Luís. Ao retornar aos treinos da Portuguesa, discutiu com cartolas, que, como represália ao que consideravam rebeldia, não renovaram o contrato de Caio, que passou a treinar isoladamente, sem contato direto com os companheiros do time. Em março, a corda esticou de vez E Caio teve o passem emprestado ao Grêmio, pelo período de dez meses. Um personagem foi fundamental para a negociação: o preparador físico Wilton, que também acabara de trocar o São Paulo pelo clube gaúcho. Caio seria uma das esperanças de gols para o time que se preparava para a Taça Libertadores da América, que também contratara César. Ambos brigaram pela posição de titular, mas Caio levou a melhor. O destino reservava grandes surpresas. E não foram poucas.
Com o Grêmio, Caio teve o seu melhor momento na carreira em 1983, conquistando o Mundial Interclubes e a Taça Libertadores da América, da qual foi o segundo principal goleador. Ao longo de sua jornada no Grêmio, assinalou 48 gols. Um deles o primeiro da vitória de 2 a 1 na final contra o Peñarol, que garantiu a primeira “Libertadores” para o Grêmio.
Mas houve um momento no Tricolor gaúcho em que Caio aborreceu-se. O centroavante era titular absoluto do time que se preparava para a disputa do Mundial Interclubes, em Tóquio, contra o Hamburgo, mas a diretoria do clube contratou várias estrelas somente para aquele jogo. Uma delas, Paulo Cézar Caju.
Logo no segundo tempo, quando o placar estava 1 a 1, Caju cansou e o técnico Valdir Espinosa escalou Caio. Sorte gremista lançada. Caio entrou para mudar o rumo da partida. Com um lançamento preciso para a grande área do time alemão, a bola encontrou Renato Gaúcho, que driblou o zagueiro e marcou o segundo dele na partida e o gol do título de campeão do mundo para o Grêmio.
Em dezembro de 1984, Caio sofreu uma grave contusão na virilha durante um jogo pela Taça Libertadores daquele ano. O Grêmio tentava o “bi” e Caio era a esperança de gols, mas, infelizmente, a contusão o tirou de cena e o time perdeu a final para o Independiente, da Argentina.
Embora tivesse apenas 30 anos, Caio sentiu-se inseguro para continuar a carreira. Decidiu, prematuramente, parar. Santos, Palmeiras e o Benfica queriam contratá-lo. Caio manteve-se irredutível e informou à diretoria que não mais jogaria.
Desolado, Caio retornou a São Luís, cidade que aprendeu a amar tanto quanto o Rio de Janeiro, sua terra natal. Do futebol, partiu para o comércio. O que tinha, investiu em uma rede de farmácias. Foi nessa época que, durante uma pelada para lá de informal, Caio descobriu que não mais sentia a impertinente dor na virilha. Estava curado. Cartolas do Moto Club souberam do fato e decidiram convidá-lo para voltar aos gramados. O Grêmio ainda era detentor do passe de Caio, mas acabou liberando-o para o clube maranhense. Caio permaneceu até 1989, ano em que o Moto Club foi campeão estadual, brigou com o presidente do clube, Edmar Cutrim, e decidiu ir para o rival Sampaio Corrêa, com o qual foi bicampeão, em 1990 e 91. Após estas conquistas, Caio decidiu, definitivamente, pendurar as chuteiras.
Passou a trabalhar com escolinhas de futebol pelo Cohatrac [Conjunto Habitacional dos Trabalhadores Comerciários], famoso bairro de São Luís, e foi treinador e auxiliar técnico de muitos clubes maranhenses, entre os quais o Maranhão e o próprio Moto Club. Mas a carreira de treinador não decolou. Seu último estágio foi em 2000, no comando do Açailândia. “Cada ser humano é um ser humano… Nem todo bom atleta quer dizer que será um técnico. Prefiro ser torcedor.”
Caio foi se virando como pôde. Foi gerente de vendas de uma fábrica de pré-moldados e derivados, localizada no bairro do Anil, em sociedade com Paulo Figueiredo, técnico em engenharia. Sem experiência de ambos, o negócio não foi para frente. Nunca se omitiu diante dos fracassos como empreendedor, mas sempre fez o possível para ajudar, sobretudo, os parentes, inclusive os da ex-esposa Zelda, com quem teve os filhos Caio Rafael e Rafaela. E foram alguns destes familiares de Zelda de que Caio disse ter sido influenciado para investir em farmácias. “Fiz algumas coisas com o dinheiro, como comprar casa pra minha mãe e meus irmãos. Na hora que achei que era momento, montei cinco farmácias; achei que era ganhar ou perder. E foi isso [perder] que aconteceu. Montei uma coisa que não tinha nada a ver comigo; eu nunca havia vendido um remédio. O que eu ia fazer com farmácias? Mas acontece que não deu certo faz parte da vida, não é só eu que está assim que passou pelo futebol e poderia estar melhor.”
Na década de 1990, o dinheiro escasseara de vez. Caio encontrou como fonte de renda um táxi, que pertence a um amigo. Até novembro de 2014, o grande ídolo gremista, da Lusa e do Moto Club dirigiu seu carro, cujo ponto ficava no Aeroporto de São Luís, para sobreviver. “Não queria ser taxista, não. Mas, dentro do que ganho, vivo bem.”
Morando sozinho e com o desgastante e insalubre ofício aliado ao uso contínuo do cigarro por anos a fio, sua saúde degringolou. Uma trombose na perna esquerda há anos o impediu de trabalhar como taxista. Caio negligenciou a doença, que se agravou em 2014. Sem recursos financeiros para o tratamento, o risco de amputação, nestes casos, é iminente. Em novembro de 2014, para reverter a situação, Tarciso, ponta-direita com quem Caio jogou no campeoníssimo Grêmio dos anos de 1980, iniciou um mutirão solidário para arrecadar recursos e operar a perna de Caio. Renato Gaúcho, o capitão do Mundial de 83 Hugo De León e o presidente do Tricolor Fábio Koff foram alguns dos que colaboraram com a campanha que levou Caio a Porto Alegre para submeter-se a cirurgia.
A solidariedade entre heróis do futebol foi decisiva para salvar Caio, um ídolo genuinamente campeão mundial!
Mas o dia 12 de fevereiro de 2019 roubou Caio do carinho das torcidas gremista e do Moto Club. Mas jamais sequestrará da memória o que Caio fez pelas duas.