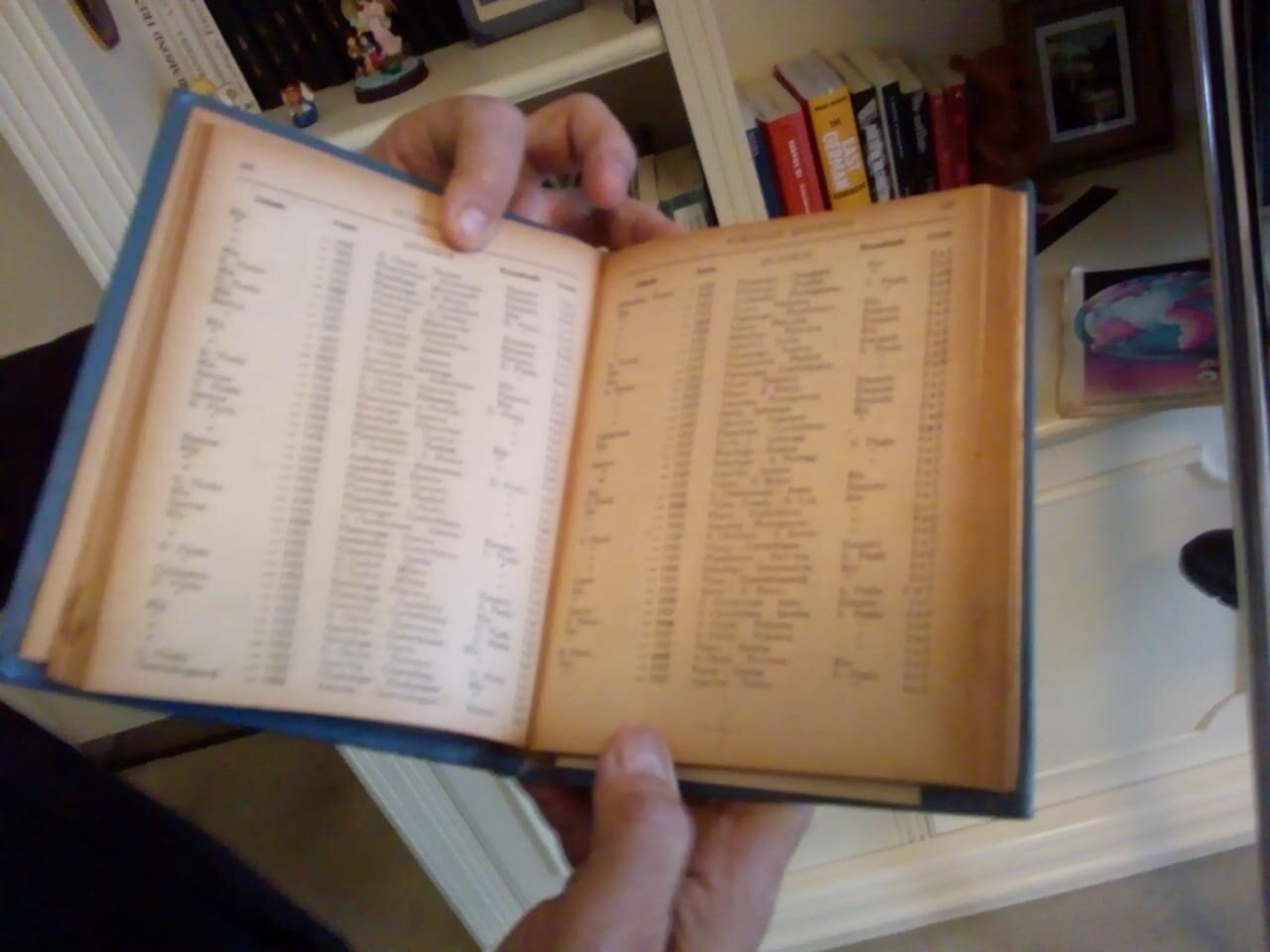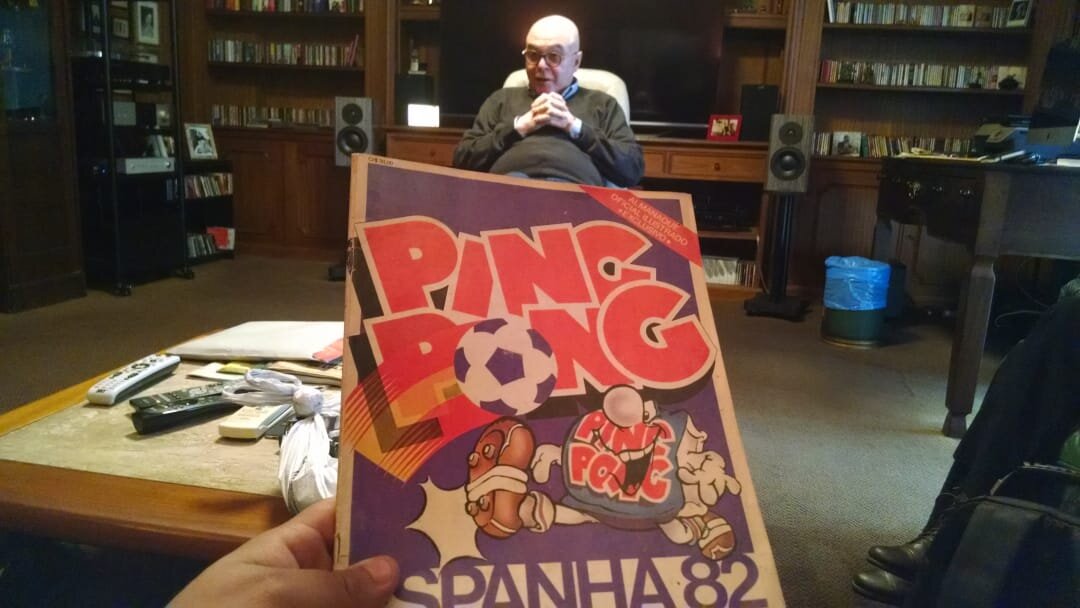por André Felipe de Lima
“É sopa fazer gols nos argentinos”. Tanto é verdade que o autor da frase, um centroavante brasileiro, um dos melhores que o Botafogo já teve, tornou-se um dos maiores ídolos do Boca Juniors em todos os tempos. Torcedores portenhos, e seja de qual clube fosse, idolatravam-no em Buenos Aires. Paulo Valentim era uma unanimidade na Argentina. Dizia ter saído de General Severiano porque “venceu pelo cansaço” o embate com os cartolas. A oferta do Boca era tentadora, e no Alvinegro sua vaga de artilheiro já estava começando a ser ocupada por um ponta de lança paraense e muito bom de bola, que acabaria se tornando o maior goleador (até hoje insuperável) da história do clube: Quarentinha. Havia também o Amoroso, outro excelente centroavante, que também sabia fazer gols pra chuchu. Mas Valentim era a vedete, sobretudo após o extraordinário título de 1957, quando marcou uma saraivada de gols na final contra o Fluminense. Perdê-lo seria o ocaso, temia o pessoal em General Severiano.
Foi Paulo Amaral quem bateu o martelo. Virou-se para Valentim e disse que no Botafogo não dava mais e que ele, Valentim, estava psicologicamente perdido para o time. Também, pudera. As luvas de dois milhões meios de cruzeiros eram quantia absurdamente alta para os padrões do futebol da época. Naturalmente que Paulo Valentim já não pensava mais em Botafogo. Mas o Botafogo ainda pensava nele.
Brandão Filho, diretor de futebol, também ouviu o treinador atentamente e foi bater um papo com o Valentim. Derradeiro empenho para que permanecesse no clube. Tentativa em vão. O jogador conversou em seguida com o vice-presidente Sérgio Darci e, depois, com o presidente Paulo Azeredo, de quem conseguiu, após muito chororô do certola, a liberação para jogar pelo Boca. Na última semana de junho de 1960, Valentim e sua esposa Hilda (ela mesma, a famosa Hilda Furacão) embarcaram para a capital da Argentina, com mala, cuia e, claro, gols.
A primeira abordagem do Boca aconteceu em março de 1960. Valentim estava em excursão com o time do Botafogo, viajando pelos gramados da América Central. Hilda enviou uma carta ao marido, na qual escrevera que um emissário do Boca baixara na casa deles querendo convencê-lo de que jogar pelo Boca valeria muito a pena.
O mesmo camarada não se deu por vencido. Permaneceu no Rio de Janeiro até que o Paulo Valentim desembarcasse no Galeão. Foi esperá-lo, de campana, no aeroporto para convidá-lo, pessoalmente. Valentim disse que por menos de dois milhões de luvas e 70 mil cruzeiros mensais não haveria jogo. Mas houve um pouco mais. O salário saltou para 75 mil e Valentim e Hilda teriam confortável casa garantida em Buenos Aires, onde já o esperava o brasileiro Edson dos Santos, um dos melhores zagueiros da história do América e que já vestia a camisa do Boca.
Passou a ouvir inúmeras vezes pelos campos da Argentina a musiquinha que se tornou célebre cada vez que marcava um gol: “Tim, tim, tim, gol de Valentim”. Cada gol que fazia valia, literalmente, uma moeda de ouro, que lhe era presenteada pelo presidente xeneize Alberto J. Armando. “Se soubesse que ganharia tanto dinheiro na Argentina para lá já me teria transferido há mais tempo.”
Valentim foi embora, ser gauche na vida. Ficou riquíssimo em Buenos Aires, perderia toda a fortuna depois, essa é, contudo, uma outra (e triste) história. Mas, certamente, seu coração jamais deixou de ser alvinegro. Coisas do futebol.
***
SOBRE PAULINHO, LEIA TAMBÉM A CRÔNICA “O DIA EM QUE PAULINHO PERDEU O MEDO”, PUBLICADA EM MARÇO NO MUSEU DA PELADA: