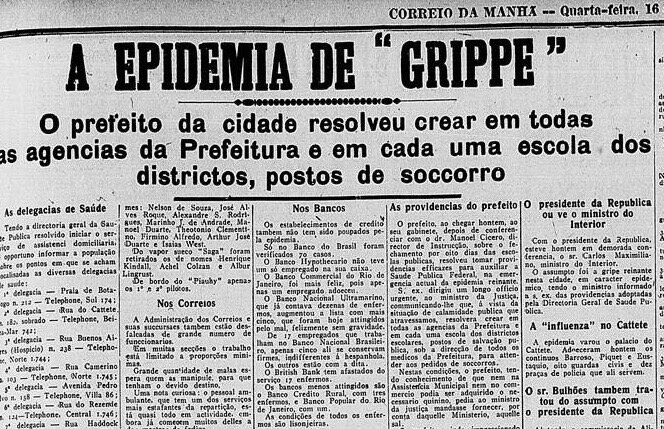Embora justamente condenável, o doping era algo corriqueiro no futebol do passado. Craques de outrora confessaram ter sido dopados. Zizinho, Almir e Amarildo são três notórios exemplos. Didi também foi dopado uma única vez sem que soubesse. O Mr.Football confirmou a história ao repórter Ronaldo Boscoli).
por André Felipe de Lima
Antes de os mecanismos de detecção em laboratórios ganharem notoriedade a partir dos anos de 1970, o doping no futebol brasileiro era mais corriqueiro do que hoje se imagina. Há depoimentos históricos de grandes ídolos que reconheceram ter recorrido às populares “bolinhas” — termo corriqueiro do universo do futebol para substâncias estimulantes proibidas no meio esportivo. Zizinho (“Dão sim. Eu mesmo tomei muito”) e Almir Pernambuquinho (“Naquele Santos x Milan de 14 de novembro de 1963, aqui no Maracanã, eu entrei muito doido no campo”) se tornaram casos célebres. Houve também o caso em que o médico do Flamengo Paes Barreto foi acusado de dopar os jogadores durante a intensa campanha do tricampeonato do rubro-negro em 1942, 43 e 44. Quando Barreto seguiu para o Botafogo, a mesma acusação foi feita em relação à campanha vitoriosa do alvinegro no campeonato carioca de 1948. Algo que jamais saiu do território das especulações e calúnias. Mas o médico confirmou, na época, que realmente dava pílulas vitaminadas para deixar os jogadores mais “animados” antes de cada jogo. Nilton Santos — comentava-se nos bastidores — cuspia escondido as “milagrosas” pílulas do dr. Barreto.
Amarildo é o outro exemplo. O jogador estava prestes a ser convocado para a Copa de 1966, na Inglaterra, quando num papo informal com o médico do escrete, o dr. Hilton Gosling, que mostrou-se surpreso com o incomum estado físico do jogador, confessou que o uso das “bolinhas” era “normal” no futebol italiano. Gosling ficou abismado com o que acabara de ouvir do “Possesso”, e Amarildo acabou sacado do escrete. Não se sabe, ao certo, se por essa história ou se por índice técnico.
A notória relação de Almir Pernambuquinho com as “bolinhas” chegou ao seu livro autobiográfico (Eu e o futebol), no qual ele fala abertamente sobre doping no futebol brasileiro. Mas — antes de o livro surgir pelas penas dos repórteres Fausto Netto e Maurício Azêdo — Almir já alardeava, sem pudor, que às vezes ingeria estimulantes, o que João Saldanha ouviu do próprio craque em uma roda de conversa na praia, em frente à rua Miguel Lemos, em Copacabana. Havia testemunhas, disse ele ao então repórter Mário de Moraes, o primeiro vencedor do lamentavelmente extinto Prêmio Esso de Jornalismo.
Durante nossas infindáveis leituras da história de cada um destes grandes jogadores do passado, deparei-me com um depoimento bombástico de Didi, cujos detalhes, confesso que desconhecia e não me recordo de ter identificado essa informação na excelente biografia dele (Didi, o gênio da folha seca) assinada por Péris Ribeiro. Caso tenha sido desídia da minha parte, desde já minhas sinceras desculpas.
Mas a reportagem da revista Manchete Esportiva estampa o seguinte título: “Eu já fui dopado”. Quando falou ao então repórter Ronaldo Boscoli, Didi estava em plena forma e a Copa da Suécia, em 1958, se avizinhava. Mas ele, embora tenha se consagrada na reta final das eliminatórias para o Mundial, ainda era visto com desconfiança por muitos, que, frise-se aqui, não deviam regular muito bem da cabeça. O ídolo chegou a confessar à esposa Guiomar que desejava abandonar a carreira nos gramados. Guiomar o dissuadiu para o bem da história do nosso futebol. Um dia, ele não aguentou mais, e disse tudo a Boscoli:
— Fico realmente indignado, toma conta de mim o desânimo quando já perto dos trinta anos assisto a tantos desmandos no Brasil esportivo. Fico revoltado com as intrigas a mim atribuídas — e Didi faz as maiores revelações de suas carreiras — dá vontade de desabafar, de falar o que sei. Chamam-me de descansado, de moleque. Queria que esses homens estivessem na minha pele em diversas ocasiões. Lembro-me de um Pan-Americano, o de 52. Eu nem podia tocar o pé no chão, imagine você chutar assim. Pois bem, eu mesmo arrumei um pedaço de borracha plástica (vulcanizada) e adaptei à chuteira. Quando fiz o primeiro gol caí de dor. Disseram que foi emoção… se emoção doesse tanto o mundo inteiro seria bem mais calmo.
Boscoli então indaga:
— Mas por que você não tomou uma injeção?
Didi responde:
— Essa não. Fui na conversa uma vez para nunca mais. Posso dizer-lhe que fui dopado, sem saber, durante um jogo de campeonato. Faz algum tempo. Quando cheguei em casa parecia que ia estourar. A cabeça rodando, o coração aos pulos. Injeção, sem eu ver antes, nunca mais. Você não pode imaginar o que significa jogar seguidamente, sempre visado, sempre assediado.
Pela história ilibada do Didi, certamente o doping sobre o qual falou ao Boscoli não foi intencional. Como o próprio Almir alertara no livro Eu e o futebol, havia aqueles que sabiam estar sendo dopados e outros — como o Didi — que entravam de “bucha” na história. Se o que ocorreu com Didi acontecesse hoje, o craque estaria encalacrado, porém sem culpa no cartório.
Futebol, uma “caixinha de surpresas”… surpresas que nem sempre são boas e saudáveis para o esporte.