CALMA, BET!
por Idel Halfen
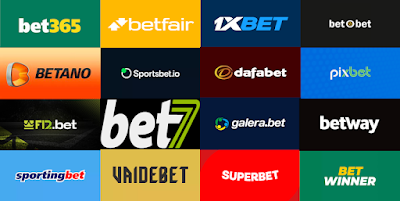
A decisão da Supercopa do Brasil 2024, que colocou frente à frente Palmeiras e São Paulo, nos brinda com um interessante fato para ser analisado sob o prisma de marketing.
Mais precisamente, vamos falar do São Paulo, que ostentou na sua camisa as marcas de duas empresas do segmento de apostas: a antiga patrocinadora, a Sportsbet, que ficou exposta no espaço máster, enquanto a atual, a Superbet, apareceu através da logo nas mangas.
Por mais que tenha havido um acordo entre as empresas, fica claro que ambas focam basicamente seus investimentos de patrocínio na exposição da marca, desprezam as diversas possibilidades de associação aos valores do clube e se dão por satisfeitos caso haja um bom retorno de mídia espontânea.
Vale aqui um questionamento: as empresas que encaram o esporte como um mero veículo de mídia já promoveram algum estudo comparativo sobre a eficácia dos diversos meios disponíveis para, daí, chegar a um bom equacionamento de alocação de verbas? Ou será que simplesmente seguem o que os concorrentes estão fazendo?

Voltando especificamente ao mercado de “apostas”, convido todos a fazerem um singelo exercício acerca das estratégias de marketing das empresas desse setor.
Os nomes são similares, quase todos trazem a palavre “bet” na marca com o provável intuito de deixar claro o que fazem, esquecendo, no entanto, que há inúmeras formas de se escolher nomes, muitas das quais não têm como objetivo que a nomenclatura remeta ao negócio fim da empresa. O que o nome “adidas”, por exemplo, tem a ver com material esportivo? E “Amazon” com comércio eletrônico?
Continuando o exercício proposto, vemos que os produtos ofertados têm pouca diferenciação, o preço (valor de aposta e prêmio), idem, além de serem acessíveis indistintamente, basta dispor de internet para se conectar às plataformas. Por mais que alguma dessas empresas consiga propiciar uma navegação mais intuitiva e rápida nos seus sites, ou que implemente alguma ação promocional arrebatadora abdicando de parte da margem para atrair o consumidor, nada garante que isso será percebido e/ou será suficiente para fidelizar e reter o cliente. Ainda que exagerada, a comparação com commodities ajuda no acompanhamento da reflexão pretendida.
A própria estratégia de divulgação é bastante similar entre as marcas, e as tentativas de ativação não parecem ocorrer em qualidade, frequências e intensidades que permitam alcançar os objetivos.
Aliás, não custa perguntar: quais são os objetivos? Em que uma marca se diferencia em termos de atributos valorizados e perceptíveis de outra?
Provavelmente um bom atendimento pode facilitar o trabalho de diferenciação, até porque esse talvez seja o único ponto de interação com humanos, mas é também um dos mais difíceis, visto exigir fortes investimentos em contratação, treinamento e supervisão.
Na prática, o que vemos é que por mais presentes que as “bets” se façam, poucas procuram se posicionar. As que tentam, apelam para condições aparentemente pouco impactantes ou que não se constituem em efetivas vantagens competitivas, muito menos dignas de alcançar uma liderança sólida e sustentável na mente dos consumidores.
A argumentação que a fase atual do mercado está voltada a uma espécie de seleção natural dos mais fortes é, sem dúvida, coerente. É absolutamente usual que vários players adentrem indistintamente mercados teoricamente promissores e que muitos deles não consigam sobreviver. É comum também que as marcas mais “ponderadas”, isto é, mais conscientes que estão numa maratona e não numa prova de 100 rasos, tenham mais chances de triunfar. Todavia, fica difícil adjetivar de consciente aqueles que, ao invés de buscar a diferenciação, investem na imitação.
Branding? O que é isso? Marketing? Ué, já faço propaganda!
Esse suposto diálogo dá bem a tônica do que acontece no mercado aqui em foco, mas justiça seja feita, não reside neste a exclusividade da pouca atenção ao marketing como ferramenta estratégica.
PEGA PARA CAPAR
por Fabio Lacerda

As Olimpíadas de Paris acontecerão pela terceira vez desde as competições de 1900 também realizada na Cidade Luz. A edição deste ano coloca a cidade mais visitada do mundo como a maior anfitriã das Olimpíadas ao lado de Londres a partir do recorte para o início do século XX. Apesar de o futebol ter iniciado como exibição no último ano do século XVIII, hoje em dia, todos os jogadores são profissionais. Profissionalismo este que deixaria o Barão de Coubertin desapontado em virtude da sua paixão pelos desportistas amadores.
Pentacampeão mundial em 2002, o futebol brasileiro passou mais 14 anos de frustrações em Olimpíadas após o título conquistado na Coréia do Sul e Japão. A medalha de ouro, que ficou tão próxima em Seul (1988), abateu uma geração, e todo um novo ciclo visando Barcelona, em 1992, quando o Brasil foi eliminado no Pré-Olímpico, colocou nosso futebol em xeque-mate quando limitava-se a falar de favoritismo em Olimpíadas. À época, o técnico era Ernesto Paulo.
O futebol brasileiro passou a valer ouro somente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro diante de tanto dinheiro jogado fora para trazer o maior evento mundial esportivo para a “cidade nada maravilhosa cheia de desencantos mil”. A conquista suada e repleta de tensões foi nos pênaltis. O Maracanã foi o palco desse fim de jejum que deixou o Brasil com o grito de campeão entalado desde sempre. Na edição seguinte dos Jogos, em Tóquio, o Brasil conquistou o bicampeonato sobre a Espanha, a seleção que venceu a modalidade lá em 1992, em Barcelona, no time comandado dentro de campo pelo jovem Pep Guardiola, considerado há tempo o melhor técnico do mundo.
Aos nossos colaboradores, leitores e entendedores do esporte bretão, não surpreendam-se caso a seleção brasileira, dirigida à beira do campo por Ramon Menezes, fique eliminada. Tudo pode pesar contra, inclusive, a crise institucional que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passou a conviver com naturalidade e sobriedade há muito tempo desde os escândalos envolvendo Ricardo Teixeira, passando por Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo e mais recentemente com Ednaldo Rodrigues que foi restituído à presidência graças à uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Primeiro colocado no grupo A, o Brasil fechou a fase classificatória sendo dominado e quase goleado pela Venezuela que venceu por 3 a 1 depois de fazer 3 a 0 e classificou-se para o quadrangular deixando o Equador a ver navios. Já no grupo B, Argentina e Paraguai seguiram adiante deixando o Uruguai, atual campeão do mundo sub-20 pelo caminho.
A tabela favorece o Brasil, pois o confronto com a Argentina acontecerá somente na última rodada. Na segunda-feira, o Brasil enfrenta os “hermanos” paraguaios numa partida que será carne de pescoço e pode ditar a sorte ou azar de um caminho espinhoso para quem perder.
O comportamento emocional vai prevalecer neste confronto contra os guaranis. E que a última rodada possa ser um jogo disputado sem vislumbrar aquele “jogo de compadre” no qual um empate “malicioso” e arquitetado possa “sacanear” o fair play e causar prejuízos morais e desportivos para os azarões do quadrangular.
Uma possível eliminação do Brasil sendo o atual bicampeão olímpico vai unir Ramon Menezes ao Ernesto Paulo como técnicos que possuíam recursos humanos de qualidade no plantel mas que não conseguiram uma vaga nas Olimpíadas.
Bem diferente da Copa do Mundo, que aumentou desproporcionalmente o número de participantes, e consequentemente, de classificados na América do Sul e demais continentes, as Olimpíadas oferecem somente duas vagas por aqui, no continente Anti-Exemplo. Chegou a hora de a onça beber água. E o Brasil não pretende morrer com um abraço de urso.
BEBETO SENTE A PRESSÃO
por Elso Venâncio

A Umbanda e o Candomblé, religiões africanas, têm muitos adeptos no país do futebol. Dirigentes, técnicos, jogadores, massagistas e torcedores respeitam, reverenciam e buscam ajuda com rezas, crenças, simpatias e oferendas. Dizem até que há santos e orixás que favorecem clubes.
O grande João Saldanha repetia:
“Se macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminaria empatado”.
Lourinho, figura popular e folclórica, era chefe da torcida do Bahia. Ia aos jogos todo vestido de branco, com direito a turbante, e por lá fazia os seus ‘trabalhos’.
“Pai Mineiro”, massagista do Flamengo, garante ter amarrado Bebeto, quando o maior jogador do Brasil na época trocou o Flamengo pelo Vasco, após a Copa América de 1989. Naquele ano, a Seleção Brasileira chegou ao título, após jejum de 40 anos, e com sete gols Bebeto foi o artilheiro e principal nome da competição.
Na estreia contra seu ex-clube, Bebeto estava nervoso. Deu um pontapé no amigo e compadre Zé Carlos, goleiro rubro-negro, sendo imediatamente expulso. Na semana desse jogo, que consagrou Bujica, autor dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 0, “Pai Mineiro” estava numa agência bancária, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, quando Bebeto adentrou o recinto com a esposa Denise. Vendo o ‘mandingueiro’, o casal recuou, saiu de fininho.
Como esquecer “Pai Santana”, do Vasco?
Vanderlei Luxemburgo pediu ao meio campo Gilmar Fubá para ir ao seu quarto, na concentração, à meia noite.
“Pois não, professor” – sorriu o alegre Gilmar.
“Fubá, entre nessa banheira de gelo, que você vai marcar o Müller”.
“Mas tá frio… O que tem nessa banheira?” – retrucou o jogador, obrigado a contragosto a fazer tal imersão. Müller, em grande fase no São Paulo, aplicou dois dribles em Gilmar e fez seu gol. Depois, marcou o segundo. Fosse pouco, deu passe para o terceiro. Gilmar acabou sendo substituído e, claro, vaiado pelos corinthianos.
“Não deu, né? Os santos falharam”.
“Que falharam, o quê? Você é que não joga porra nenhuma!” – resmungou, irritadíssimo, o treinador.
Roberto Barros, o “Pai Guaratã”, lançou um livro em que revela detalhes do ‘culto espiritual’ que promoveu numa suíte do Hotel Nacional, em São Conrado, com direito à presença do presidente corintiano Vicente Mateus, do técnico Davi Ferreira, o Duque, e dos titulares escaldados para o jogo com o Fluminense válido pelas semifinais do Brasileiro de 1976.
Quando o pai de santo incorporou, avisou que o Corinthians venceria a ‘Máquina Tricolor’ nos pênaltis, o que se confirmou. Anos depois, encontrei Duque e perguntei a ele se a história era mesmo verdadeira.
“Sim, Elso. Eu organizei tudo! E, quer saber, o Oswaldo Brandão também faz esse ritual”.
Márcio Braga apoiava as torcidas organizadas. Nisso, deu à Atorfla, a Associação das Torcidas Organizadas do Flamengo, uma sala na Gávea. Nilton Francisco, o saudoso Niltinho, da Flatuante e depois da Jovem, passou a assessorar George Helal, o vice de futebol rubro-negro. Niltinho levou um pai de santo, o “Seu 7” para falar com Helal.
“O número 7 faz gol aos 7 minutos” – afirmou o místico.
Contratado junto ao Atlético Mineiro, o ponta-direita Sérgio Araújo, que jogava com a camisa 7, estrearia num domingo, contra o Santos. “Seu 7” entrou no gramado do Maracanã, deu sete passos e sete baforadas num charuto. Empate sem gols no primeiro tempo e Sérgio Araújo, a grande atração da partida, mal pegou na bola. Aos 6 minutos da etapa final, Sérgio Araújo abriu o placar. Na ótica de “Seu 7”, esse tento aconteceu aos sete minutos. O Flamengo venceu por 1 a 0.
O pai de santo acabou sendo contratado por Helal. Mas foi dispensado três meses depois, diante da má fase do próprio Sérgio Araújo e, por conseguinte, do Flamengo.
Para alívio de Telê Santana, que ficava de cara amarrada quando alguém perguntava sobre o “Seu 7” ou quando, ocasionalmente, o mesmo passava por ele na Gávea.
SEMPRE SEM MEDO
por João Máximo

Certa vez, apresentando João Saldanha ao público que lotava um teatro para vê-lo, defini-o como um carioca de Alegrete que podia orgulhar-se ser o único técnico de seleção brasileira abençoado com as graças da unanimidade. Aquele homem que acabara de palestrar sobre uma de suas paixões – o futebol – fora responsável por devolver à seleção, nas eliminatórias de 1969, a credibilidade que ela perdera na Copa do Mundo de três anos antes. Como? Combinando ao seu conhecimento o charme, o carisma, a astúcia, a simpatia, o humor e o jogo de cintura do bom carioca nascido nos Pampas.
Só depois, em conversa com pessoas da plateia, descobrimos que elas admiravam João Saldanha por razões diversas: o técnico, o comentarista de rádio, o dos cinco minutos de TV, o cronista de jornal, o homem que vira “todas as Copas do Mundo”, o conversador de tiradas saborosas, o contador de histórias, o grande personagem. Eram tempos de chumbo. E muitos dos que ali estavam viam no palestrante a figura que, no futebol, simbolizava a oposição à ditadura que acabara de faturar, indevidamente, o tri brasileiro no México.
Ninguém chegou a falar do João Sem Medo, brigão, destemido, ou do ex-garotão de praia, amigo de Heleno de Freitas, Sandro Moreyra e Salim Simão, todos botafoguenses. Muito menos do candidato a vice-prefeito do Rio, do ator de cinema ou da autoridade em escolas de samba, papéis que, afinal, ele só representaria mais tarde.
O centenário de João Saldanha é mais uma oportunidade para repetir que ele foi muitas pessoas para muita gente. Não há como defini-lo sem o risco de nos perdermos pelos atalhos de sua personalidade. Nada a ver com os cinco casamentos. Nada a ver com sua eterna fidelidade ao Partido Comunista. Nada a ver com as tantas viagens com que confundiu nossas cabeças (na Normandia com Montgomery, na Grande Marcha com Mao Tsé-Tung, na Coreia como correspondente de guerra), mas tudo a ver com seu fascinante modo de ser. No futebol, único.
O Botafogo deve muito a ele o Campeonato Carioca de 1957 (naturalmente, menos do que deve a Garrincha e a Paulo Valentim). Também deve a ele, novamente em parte, o Brasil do tri. A quantidade de trapalhadas que cometeu nos primeiros meses de 1970 (sair armado atrás de Yustrich, tentar ser técnico e jornalista ao mesmo tempo e apregoar as limitações visuais de Pelé) deram armas para que os homens da ditadura, que o detestavam, o substituíssem. Isso depois de João Saldanha ser, à frente da seleção, a figura mais popular do Brasil em 1969. Nem Roberto Carlos, nem Chacrinha, nem Pelé, mas ele, João. Até os paulistas aprenderam a gostar dele, depois de o rejeitarem em manchete de jornal: “Perdemos a seleção!”.
João Saldanha nunca se referiu ao substituto com inveja, nunca criticou o seleção da qual fora banido, nunca se ressentiu do médico e do preparador físico que o boicotaram. Era das melhores facetas de seu caráter. A outra, a lealdade aos amigos. Quem conviveu com ele em redação de jornal, nos últimos 14 anos de sua vida, é testemunha disso. E de como ajudava os mais jovens, o estagiário, garotos e garotas que se aproximavam como quem se chega a uma lenda e que encontravam nele um igual. Leal e companheiro, deixou no jornalismo esportivo um vazio.
Passional, fez pela vida afora muitos inimigos. Na política, claro, e no futebol. De revólver em punho, correu atrás de Manga quando soube que o goleiro queria refutar no braço a sugestão de que tinha se vendido. Na véspera, a briga foi com o contraventor Castor de Andrade, que dizia ter comprado Manga. De outra feita, deu um tiro nas prateleiras do comerciante que vendera pilhas gastas à sua empregada. Sua noção de justiça, sua defesa do que achava certo, também era parte do caráter que dizia ter herdado do pai, bravo maragato das querelas gaúchas do começo do século passado. Ele e o irmão Aristides, também valente. Os dois só não combinavam como torcedores: João, do Grêmio, Aristides, do Inter.
As histórias são muitas, as vividas e as imaginadas. Como disse Marcos de Castro, ao escrever sobre ele, João Saldanha não mentia. Mitômano, simplesmente acreditava nas coisas que contava, às vezes para perplexidade de quem as ouvia. E, no entanto, muitas daquelas histórias eram pura verdade. O desafio ao general Médici, que queria Dario na seleção, realmente aconteceu: “O presidente escala o ministério dele e eu escalo o meu time”. Ficou assim como uma declaração de princípios: não haveria de ser com sua ajuda que os generais da vez iriam vestir a faixa do tri.
É irônico que tenha morrido na Itália, durante uma Copa do Mundo em que a seleção brasileira passou a praticar o mau futebol que ele tanto combatia. Sempre sem medo, viajara muito doente, sem ouvir conselhos médicos, para se despedir, do futebol e da vida, em pleno campo de batalha.
O DRIBLE IMAGINÁRIO
Texto: Roberta Saboya | Ilustração: MAM

Durante a minha infância, os domingos eram de festa. Os almoços eram rápidos: cachorro quente e sanduíche de queijo. Íamos todos – do priminho melequento ao tio-avô surdo – para o templo do futebol: o MARACANÃ. Era uma época em que o tempo passava devagar, sem a pressa dos celulares. Os lances da partida eram registrados só pelas retinas e corações.
À noite, “almoçávamos” em volta da mesa redonda da bisa, onde comentávamos cada lance, criávamos teorias. Tinha um primo meio cego que inventava jogadas geniais.
Os dias de Fla X Botafogo eram os mais animados. Minha avó, botafoguense roxa, quase deserdou meu pai, Flamenguista nato. Eu gostava das discussões, podia imaginar vividamente os lances que nunca vi ao vivo.
Através da vovó, conheci o seu maior ídolo, Garrincha, o anjo das pernas tortas. Ela narrava com detalhes cada drible, cada jogada espetacular. “Uma obra de arte”, dizia.
Já meu pai falava da inteligência e precisão das jogadas de Zico, o craque ambidestro que enlouquecia os goleiros com suas batidas de falta. “Uma obra de arte”, meu pai dizia.
Com o passar do tempo, os craques, os domingos animados ficaram esquecidos em uma gaveta da memória. Ontem à noite, embalada pela nostalgia, sonhei com uma partida atemporal. O Maraca estava lotado para ver Flamengo X Botafogo. Os times reuniam jogadores de todos os tempos: de Túlio Maravilha, a Bruno Henrique. Eu na geral! Na Geral, vendo tudo, sem entender nada. No meio daquela miscelânia estavam os craques… os artistas favoritos da minha avó e do meu pai.
Quando os vi, parei de me questionar que diabos estava acontecendo. Só apreciei… Vi Garrinha, o anjo das pernas tortas, deixar Ronaldo Angelim de bunda no chão e mandar um balaço na rede. Vi o Galinho fazer uma jogada genial e deixar Gabigol de cara pro Jefferson. Em algum momento dessa loucura, o maior ponta direita do Botafogo ficou cara a cara com o maior camisa 10 do Flamengo. Foi aí que o mundo parou. O Garrincha ia driblar o Galinho?
Eu, na ponta dos pés, suspensa pela tensão da partida, vi surgir do meu lado direito a minha avó, que profetizou que o Garrincha driblaria sim o Zico. Do meu lado esquerdo apareceu meu pai, que garantiu que o Galinho de Quintino se daria melhor. Parei de olhar o campo. Queria matar saudades da minha avó, do meu pai. A multidão berrou!
Não sei quem driblou quem, sei que tanto a minha avó quanto o meu pai aplaudiram o lance. Acordei em um domingo sem almoço de família, mas com o coração preenchido de amor, de história, de futebol.”
