por André Felipe de Lima
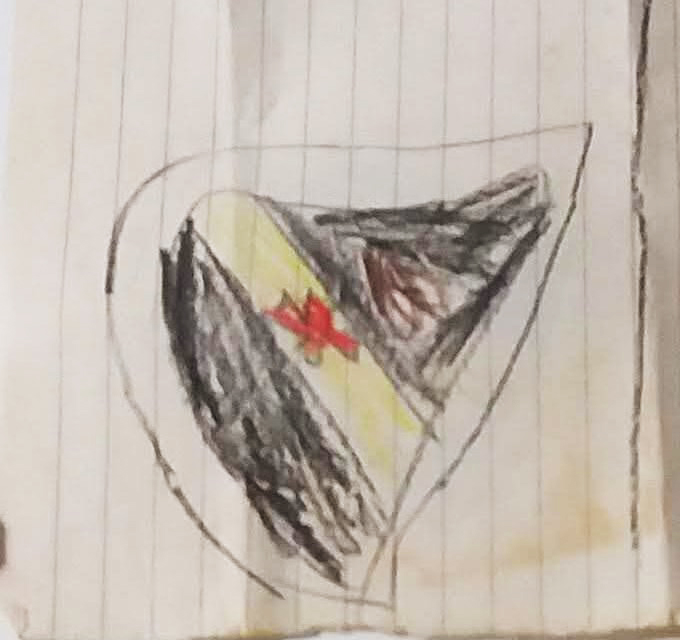
Eu tinha, sei lá, uns quase seis anos. Vivo confundindo minha idade. Ter nascido em um dia 31 de dezembro sempre deixou-me um pouco (às vezes até muito) confuso. E é assim até hoje. Só tenho certeza de que o ano era 1974 e o mês era julho. Ano e mês em que comecei a compreender que o futebol entrara em minha vida para não mais sair dela. Um dia em que, ao lado do meu pai, assisti, numa TV colorida (raridade na época), da tribuna dos profissionais do Hipódromo da Gávea, o jogo em que o Brasil perdera da Holanda, sim, a “Laranja mecânica”, de um tal “Cruyff”. Meu pai via o jogo e conversava comigo como se eu lá entendesse alguma coisa daquilo que se passava na TV. Solitários, eu e papai, em um jóquei clube completamente vazio, sem vivalma sequer, vimos o Brasil tomar um baile. Eu, e faço questão de frisar, não entendia nada do que acontecia em campo, mas achava do cacete aquele monte de maluco (sim, para mim todos uns doidos varridos) cabeludo (sim, cabeludos, porque era moda, na época, ostentar cabeleiras) chutando a bola um para o outro e os que vestiam camisa de cor azul tentando roubar a bola do pé dos camaradas que vestiam blusa laranja. Comecei a me dar conta de que aquilo ali, além de ser muito divertido, chamava-se futebol. Essa emoção aumentaria no mês seguinte. Eu explico o porquê. Meu pai tinha tudo para ser botafoguense. O pai dele, meu avô, o levava a jogos do Botafogo, isso lá nas décadas de 1940 e de 50. Mas havia um certo “Expresso da Vitória”, cuja camisa era ora branca, com faixa diagonal preta e uma cruz de malta no coração, ora o contrário, ou seja, preta com faixa branca, porém com a cruz sempre em vermelho. Havia também naquele “Expresso da Vitória” um cara chamado Ademir, com um queixo proeminente, mas com uma imagem quase bíblica nas fotos. Papai mostrou a foto dele para mim. Bom, por causa do tal Ademir o meu pai ignorou a “pressão” do vovô, deixando para lá o Botafogo. Voltando a minha particular história, eu, no mês seguinte aquele jogo dos caras de azul contra os caras de laranja, voltei a me empolgar com o futebol. Estavam em campo, aquele time da cruz de malta e outro com cabeludos de azul. Sabia que meu pai gostava do time que tinha a cruz de malta. Tentara me explicar isso algumas vezes, a história dele com o vovô. Mas não demoraria para que eu a compreendesse. Daquela vez não assistimos ao jogo pela TV. Não tínhamos TV em casa. Ouvimos, então, pelo rádio. E, naquele dia de agosto de 1974, passei a amar três coisas, e todas, harmoniosamente como uma trova, entrelaçadas: o time da cruz de malta, o futebol e as transmissões pelo rádio. O jogo terminara e recordo a alegria do meu pai, que gritava: “É campeão! É campeão! O Vasco é campeão!”. Eu não entendia rigorosamente nada, mas gritei com ele. “Campeão, papai! Campeão, papai! Vasco! Vasco! Vasco!”. No dia seguinte, logo cedo, pela manhã, peguei minha caixinha de lápis de cor e desenhei, tentando copiar o que via no jornal do meu pai, o escudo que se tornaria amor da minha vida, e encantei-me com a foto, em especial, de um cabeludo, de proeminentes dentes frontais e de sorriso farto, que no jornal se encontrava. As imagens daquele escudo e do cabeludo de sorriso farto jamais saíram da minha memória. E da minha caixinha de lápis de cor nasceu o que eu entendia como “O meu Vasco, o meu amor”. Obrigado, Ademir, pelo meu pai; obrigado Roberto Dinamite, por mim.
0 comentários